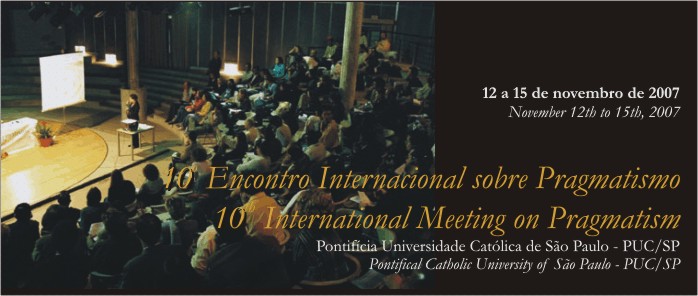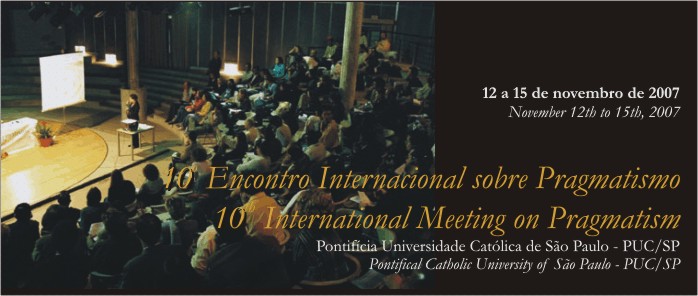|
|

|
Pragmatismo,
Lógica e Linguagem: Raízes e Perspectivas de uma Unidade
para Além dos Dualismos
AGUIAR,
José Arlindo de
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Igarassu, FACIG;
Faculdade Maurício de Nassau - Brasil
arlindoaguiar@bol.com.br
Resumo:
Lógica e filosofia da linguagem dividem com o pragmatismo
o título de caracterizadoras da tradição anglo-saxã
na filosofia. Mas a interconexão entre os dois temas nem sempre
salta aos olhos. Podemos com alguma facilidade analisar formalmente
com nossas diversas versões atuais da lógica os princípios
do pragmatismo; inversamente há espaço para abordar
os sistemas lógicos sob o viés pragmático. Aqui
se tenta delinear a lógica que pode existir inerentemente aos
princípios do pragmatismo, e aquilo que de pragmático
se esconde na mais pura filosofia analítica.
O caminho proposto leva em consideração um indício
histórico da era em que a lógica e a linguagem estavam
indissociadas do mundo sobre o qual falavam. Um mundo que chamava
aos objetos "pragmata", "aquilo com que lidamos".
A Grécia berço da filosofia mantém em seu pensamento
a união originária que conecta a raiz pragmática
e a linguagem. A linguagem, ou discurso grego se consubstancia no
"lógos", traduzido mesmo até simplesmente
por conversa.
A comparação de um mundo em que cada objeto se fazia
objeto por sua função, e em que esta mesma funcionalidade
se estabelece como organização lógica do discurso
reflexo da natureza, com o nosso mundo deve dar perspectiva ao que
podemos modernamente entender por função contemporânea
da lógica. Ou que lógica podemos de fato chamar de pragmática
aquela(s) para as quais encontramos uma realidade coincidente e na
qual podemos aplicá-la com finalidades específicas ou
a tentativa de formalizar a própria intimidade da relação
entre meios e finalidades.
A título de exemplo no primeiro caso consideremos as criações
abstratas da lógica matemática, no segundo a abordagem
dos objetos de conhecimento como primitivos objetos "à-mão"
contribuição Heideggeriana à fenomenologia, talvez
sua parcela de débito com o empiricismo radical de James, admirado
pelo seu mestre Husserl.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Lógica. Linguagem. Fenomenologia.
|
Caminhando
nos Campos de Trigo de Van Gogh e Agnes Denes - Premissas Estéticas
que Fundamentam uma Pragmática da Filosofia da Natureza
ALMEIDA,
Maria Celeste de; COSTA e SILVA, Tiago
Universidade Federal da Bahia - UFBA
Centro Universitário Senac São Paulo
mcawanner@hotmail.com
tkunst@gmail.com
Resumo:
O presente ensaio pretende elaborar um estudo de como um determinado
efeito estético, advindo de uma peculiar obra de arte, possui
a competência de sugerir - segundo sua natureza ontológica
- o aparecimento de uma concepção de Filosofia da Natureza,
onde a partir do momento da contemplação, surge a idéia
do outro, de não-ego, e em seguida, aparece o poder cognitivo
construído pela objetividade deste outro, que lhe determina
a representação e seus interpretantes. Aparece também,
juntamente com a primeira contemplação, a idéia
de uma matriz eidética originária comum que perfaz toda
a realidade, a natureza, e mais ainda, e subseqüentemente, a
idéia de que a mente humana, com seu aparato cognoscitivo,
é apenas um pequeno aspecto que apareceu como conseqüência
prática do processo evolutivo da natureza.
As obras que servirão como base para a construção
desse ensaio são a pintura de Vincent Van Gogh "Campo
de Trigo com Corvos", (1880), e a obra contemporânea de
Agnes Denes - uma Earth Art - "Campo de Trigo: uma Confrontação",
(1989). A primeira obra, construída com a técnica de
óleo sobre tela, e caracteristicamente pertencente ao período
Expressionista pela sua peculiar forma de representação
apresenta-nos um conjunto de efeitos sensíveis que, além
de a tornarem única dentre os quadros de Van Gogh, propõem
um deslocamento semântico para além daquele tema representado
- mas ainda identificável na imagem - realçando as características
de vitalidade e originalidade já existentes na paisagem real
sensível que lhe servira de referência. A segunda obra,
entretanto, é construída a partir de um imenso campo
de trigo realmente plantado em uma área específica no
centro financeiro da cidade de Nova Iorque. Esta obra possui a competência
de enlevar suas próprias características como material
significante dentro de um ambiente de deslocamento semântico,
e propor sinestesicamente um certo efeito estético que propicia
a perda de dimensão analítica de uma tela e ao mesmo
proporciona a integração da mente cognoscente com a
obra, isto é, depois da fusão entre sujeito e objeto,
o retorno ao momento reflexivo readquire outras dimensões.
Dessa forma, como estratégia metodológica para esse
ensaio, será feita uma verificação da natureza
ontológica das obras propostas, um estudo das suas potências
de significado, e com isso adentraremos a relação entre
um específico efeito estético e a sugestão de
um caminho pragmático para uma Filosofia da Natureza - baseada
na idéia sugerida pelo momento contemplativo - cuja origem
cosmológica comum remonta aos pensamentos de Schelling e de
Platão.
Palavras-chave:
Estética. Semiótica. Epistemologia. Arte Contemporânea.
Ontologia. Filosofia da Natureza. Metafísica.
|
Sobre
Relativismo no Neopragmatismo de R. Rorty
ARAÚJO,
Inês
Lacerda
Pontifícia Universidade Católica do Paraná –
PUC/PR
ineslara@.matrix.com.br
Resumo:
Rorty leva adiante o pragmatismo, renovando-o. Inspirado em Wittgenstein,
Dewey e Heidegger, ele critica a tradição filosófica
centrada na representação como obstáculo à
cultura pragmatizada. Nela vale a conversação, a justificação,
o modelo para o conhecimento não é a mente como espelho
da natureza, mas as práticas culturais através das quais
é possível obter verdade objetiva. Mas esta não
é o centro de um procedimento epistemológico, e sim
resultado da aplicação de procedimentos justificados
em contextos do discurso normal. Ao invés de buscar um algoritmo
comum, um fundamento sólido e inabalável, é preciso
abrir a filosofia para a conversação. O rótulo
de relativismo (visto este como perigo para a verdade, para a ética,
para a política) não é o mais apropriado para
caracterizar seu pensamento; como Rorty põe em xeque a relação
esquema/conteúdo e nisso segue Davidson, a verdade não
depende de esquema; o idealismo e o relativismo concernem mais os
filósofos sistemáticos que propõem critérios
para o conhecimento. Se o conhecimento for visto não como método
para chegar à Verdade, mas como parte de procedimentos que
muitas vezes melhoram a compreensão que temos de nós,
então à filosofia caberá o papel de auxiliar
na conversação da humanidade e não de juiz cultural.
Se a mente não for vista como cuba que contém idéias,
que representa a realidade, mas como certo elemento usado para caracterizar
algumas de nossas atividades, compreensível em certos jogos
de linguagem, então não precisamos de uma ciência
que nos decifre
|
Bioética,
Determinação da Paternidade e a Concepção
Pragmática do Direito
BELTRÃO,
Taciana Cahu
Associação Caruaruense de Ensino Superior (Asces) -
Brasil
tacianabeltrao@gmail.com
Resumo:
Nossa hipótese, a ser trabalhada na presente Comunicação,
visa mostrar o caráter eminentemente pragmático da atividade
jurídica no tocante à produção de decisões,
muito embora desse caráter de aprender com a experiência,
pouco se dêem conta os juristas, que os testes de certeza estão
muito mais na experiência prática do que n a natureza
das coisas objetivamente consideradas. Para tanto e na pretensão
de dar conta desse modo de perceber o âmbito jurídico
e em que medida se pode aprender com o método do pragmatismo,
tomamos como paradigmático o modo como é tratada a questão
da determinação da filiação na perspectiva
civil-constitucional, que releva - ou, na melhor hipótese,
coloca no mesmo patamar - o vínculo biológico, enquanto
elemento componente, mas nem sempre com caráter fundamental,
no estabelecimento de critérios definidores da paternidade.
Neste aspecto, outras condicionantes são atualmente utilizadas
por alguns magistrados mais ciosos de aprender com a experiência
e que entendem, por exemplo, que a relação afetiva poderá
prevalecer para tal reconhecimento. Para tanto, o juiz tomaria por
base a necessidade de repensar velhos institutos, dando ao direito
civil um caráter promocional, com vistas ao pleno desenvolvimento
da dignidade da pessoa humana, o que de certo exige do magistrado,
não apegado apenas ao frio formalismo, um olhar atento sobre
o amplo leque dos anseios sociais, tendo como objeto uma função
utilitarista e pragmática do Direito. Este modo de ver o problema
mostra a aceitação da afirmação de Peirce,
tida para muitos como a que inaugura o pragmatismo, pelo qual a verdade
é o conjunto de efeitos práticos concebíveis.
Nesta comunicação, a partir do exame de como se resolvem
casos de determinação de paternidade, a hipótese
que desenvolvemos é que a transformação decisiva
que pode inaugurar uma nova forma de reflexão do âmbito
jurídico é aquela que se afasta dos dualismos tão
caros aos operadores do direito - direito público X direito
privado; abstrato X concreto; ser e dever-ser; direito zetético
X direito dogmático - e que, também, principalize o
exame do âmbito jurídico tão somente naquilo que
aponte como e de que maneiras a reflexão jusfilosófica
pode aprender com a experiência. O obstáculo a ser superado
é que tal atitude filosófica se choca com a teoria predominante
no direito, a qual, ainda que de forma não consciente, conforma
o ideário jurídico de maneira que novas questões,
notadamente aquelas incorporadas pelo biodireito - área inteiramente
inédita na prática judicial - sejam ignoradas pelos
juristas e alguns julgadores que, na maioria dos casos, viram as costas
para a experiência, inclusive no momento de formação
da sentença. É esta questão que pretendemos desenvolver
com a nossa comunicação e que, ao mesmo tempo, constitui
uma das hipóteses centrais de nossas pesquisas.
Palavras-chave:
Bioética. Determinação da Paternidade. Concepção
Pragmática do Direito..
|
O
Amor Criativo e os Processos Evolucionários na Cosmologia de
Charles Sanders Peirce
BIZARRO,
Maristela Sanches
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
maristela.m@gmail.com
Resumo:
Em 1893, Charles Peirce escreveu um importante texto no periódico
The Monist, que se constitui como uma base importante para estabelecer
os pressupostos de sua cosmologia. Em tal artigo, "O Amor Evolucionário",
Peirce estuda os modelos convencionados à época de seu
texto e conclui que estes modelos teóricos não são
capazes de explicar efetivamente os processos evolutivos da Natureza.
E então, propõe um terceiro modelo, no qual um princípio
criativo, ao emanar uma miríade de objetos, possui o poder
de colocar aquilo que criou em relação e atraí-los
novamente para si em uma forma cíclica, gerando novos elementos
advindos de tais sínteses. Peirce conclui que esse modelo possui
uma forma similar à do Amor descrito no Evangelho de João
e nomeia esse modelo de Amor Criativo. Com base nessa postura teórica,
o objetivo central desse ensaio é investigar como ocorre a
passagem da experiência contemplativa para a ação
e sua conseqüente reflexão que se vincula à processos
evolutivos, observando-se que da questão: "por que já
se anuncia um idealismo objetivo a partir de uma experiência
de contemplação?" emergem as principais idéias
que perfazem o percurso teórico proposto pelo presente ensaio.
Palavras-chave:
Amor Criativo. Evolução. Cosmologia. Pragmatismo.
Epistemologia.
|
O
Lugar do Pragmatismo no Diagrama Arbóreo das 66 Classes de
Signos Denominado SignTree
BORGES,
Priscila Monteiro
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
PUC/SP - Brasil
primborges@gmail.com
Resumo:
Nessa comunicação proponho mostrar como é
possível perceber, através da leitura do diagrama SignTree,
a conexão entre a semiótica e o pragmatismo. O SignTree
é um diagrama visual que detalha e dispõe as 66 classes
de signos peirceanos em uma forma arbórea que permite a visualização
de como a semiótica se estrutura e conecta-se à filosofia
peirceana. A leitura do diagrama será voltada principalmente
à extremidade dos galhos dessa árvore, pois nesse local
estão representadas as tricotomias relativas ao interpretante
final, à relação do signo com o interpretante
final e a relação triádica entre signo, objeto
dinâmico e interpretante final. A análise dessas 3 tricotomias
é de suma importância visto que nelas encontramos os
conceitos necessários para entender o potencial de crescimento
dos signos. O interpretante final, segundo Peirce, pode ser de 3 naturezas:
gratificante, prático e pragmático. Não é
por acaso que a palavra pragmático é utilizada para
descrever o interpretante final cuja natureza é de terceiridade.
O interpretante final é o correlato que introduz o conceito
de ser in futuro na semiose e que levará à capacidade
de crescimento infinito dos signos. Sabendo que a relação
triádica do signo corresponde ao processo de pensamento e que
essa relação envolve o interpretante final, portanto
a característica de ser in futuro, pode-se investigar qual
o propósito do pensamento, qual deve ser sua finalidade. Momento
em que a semiótica e o pragmatismo se conectam. Peirce descreve
três tipos de pensamento na última tricotomia: instinto,
experiência e forma. O diagrama mostra que das 66 classes de
signos encontramos em 55 delas pensamento como instinto, em 10 pensamento
na forma de experiência e em 1 pensamento formal. Entender as
razões pelas quais esses três tipos de pensamento aparecem
assim distribuídos nas 66 classes de signo é o objetivo
dessa comunicação, visto que essa compreensão
levará à conexão entre semiótica e pragmatismo
peirceano. Sugiro que a única classe de signo na qual aparece
o pensamento formal expressa a máxima pragmática, a
razoabilidade concreta e que as outras classes de signo representam
a concretização desse ideal pragmático. Nas classes
de signo que aparecem o pensamento na forma de experiência temos
a vinculação do pensamento com a ação
prática e na predominância de pensamentos instintivos
expresso o propósito do pensamento auto-controlado: construir
hábitos de ação.
Palavras-chave:
Semiótica. Pragmatismo. Diagrama. SignTree.
|
A
Noção de Fluxo Contínuo da Experiência:
Contribuições de Dewey para a Ciência Cognitiva
BROENS,
Mariana Claudia. ANDRADE, Heloísa Benvenutti. PILAN, Fernando
César
Universidade Estadual Paulista - UNESP. F.F.C. Marília - Brasil
mbroens@marilia.unesp.br
eloisabenvenutti@yahoo.com.br
pilan@marilia.unesp.br
Resumo:
O objetivo do presente trabalho é investigar a noção
de fluxo contínuo da experiência proposta por John Dewey
e suas possíveis contribuições para a Filosofia
da Mente e a Ciência Cognitiva. Dewey elabora uma teoria que
apresenta uma concepção de experiência que engloba
todas as dimensões da ação vivida, não
privilegiando apenas o papel que ela desempenha na produção
do conhecimento cientifico. Segundo Dewey, as teorias do conhecimento
tradicionais não consideram adequadamente a experiência,
pois ressaltam apenas a relevância que ela tem para a produção
de teorias, dissociando-a do entorno de que faz parte. Assim, os eventos
do cotidiano não são levados em consideração
na produção do conhecimento e a filosofia se torna uma
entidade abstrata que se supõe pairar acima ou para além
da vida. Através da noção de fluxo contínuo
da experiência Dewey refuta essas teorias racionalistas, adotando
uma perspectiva evolucionária que procura ressaltar a continuidade
ação/ambiente. Procuraremos mostrar que essa noção
de fluxo contínuo da experiência pode contribuir para
a investigação dos processos cognitivos atualmente em
curso na Filosofia da Mente e da Ciência Cognitiva.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Fluxo Contínuo da Experiência. Hábito.
Conhecimento.
|
O
Falibilismo e o Futuro do Pragmatismo
BROWN,
Sean
Universidade de Indiana-Purdue em Indianápolis
seaabrow@iupui.edu
Resumo:
Em seu Reinventando o Pragmatismo de 2002: A Filosofia Norte-americana
no Final do Século XX, Joseph Margolis declara a direção
que o Pragmatismo deve seguir se quiser ser a filosofia dominante
norte-americana. Graças a Rorty e Putnam, o interesse no Pragmatismo
renasceu. Mas, Margolis, com propriedade, declara que renovar o Pragmatismo
não basta. Este precisa ser reinventado se quiser vingar. Mais
importante ainda, Margolis argumenta, o novo Pragmatismo deve renovar
um compromisso com o falibilismo juntamente com alguma forma de historicismo.
Quer seja, para Margolis o falibilismo deveria desempenhar um papel
central no novo Pragmatismo. Neste trabalho examino a noção
de falibilismo de Margolis, especificamente sua distinção
entre os falibilismos de Peirce e Dewey, assim como as razões
porque ele prefere o de Dewey ao de Peirce.
Neste exame seguirei o debate Houser-Margolis na forma em que ele
se desdobrou na Transactions of the Charles S. Peirce Society, começando
com a palestra inaugural, como presidente, de Houser em 2004. A principal
objeção de Houser a Margolis é que ele leu mal
Peirce e que, conseqüentemente sua preferência por Dewey
é mal orientada. Embora Margolis aceite a primeira objeção,
ele rejeita a última, afirmando que o future do Pragmatismo
ainda reside em Dewey, não em Peirce. Revisitando o debate,
busco elucidar parte da confusão, para que tenhamos uma idéia
melhor da posição do Pragmatismo Clássico que
Margolis pensa precisa ser reinventada.
|
Duas
Notas sobre a "Mente Experimentalista" de Espinosa segundo
Peirce
CARDOSO
JR., Hélio R.
Universidade Estadual Paulista UNESP - Assis
herebell@uel.br
Resumo:
Entre os filósofos da tradição metafísica
elogiados por Peirce encontra-se Espinosa. A saudação
de Peirce a este pensador se deve ao fato de que sua metafísica
seria partícipe de uma, assim chamada, "mente experimentalista.
A presente comunicação visa, justamente, destacar elementos
da filosofia espinosana que, por hipótese, realizam o caráter
experimentalista alegado por Peirce. Tal objetivo principal será
cumprido a partir de duas notas, onde se demonstrará não
apenas os problemas experimentalistas de Espinosa, como também,
sua ressonância em certas passagens importantes de "Metafísica
Científica" de Peirce. De fato, Espinosa se dedica, com
afinco, à construção do chamado paralelismo ontológico
entre corpos e idéias. Sendo esta uma das teses centrais de
sua Ética, o referido paralelismo estabelece, decisivamente,
um elo pragmatista entre o conhecimento (idéias) e o mundo
da ação (corpos). De fato, para Espinosa, verifica-se
uma continuidade entre idéias e corpos, cujo rompimento faria
uma ética recair em um simples sistema moral. Do ponto de vista
prático, segundo Espinosa, sempre que se estabelece uma nova
relação entre corpos, ela requer novas condutas de ação.
Assim como, para Peirce, novas relações desencadeiam
crenças que se estabelecerão, configurando um novo hábito
que há de gerar uma modificação quanto à
conduta da vida. A mesma concordância, aproximadamente, se encontra
do ponto de vista das idéias ou no domínio epistemológico.
De acordo com Espinosa, o surgimento de uma nova relação
entre corpos impõe a necessidade de conhecimento, já
que novas relações precisam de novas idéias.
Com Peirce, temos o sentimento de satisfação sempre
que se passa da dúvida à crença, de modo que
novos hábitos mentais são também a garantia epistemológica
de que algo novo surgiu. Em suma, tanto para Espinosa quanto para
Peirce, vigoraria certa ressonância entre a alegria ética
e a satisfação de conhecer. Por isso é que, hipoteticamente,
a mente experimentalista de Espinosa atraiu a atenção
de Peirce.
Palavras-chave:
Peirce. Espinoza. Pragmatismo. Metafísica. Experimentalismo.
|
Imaginação,
Concentração, Generalização: Peirce sobre
as Habilidades de Raciocínio do Matemático
CAMPOS,
Daniel G.
Brooklyn College - City University de Nova Iorque, EUA
dcampos@brooklyn.cuny.edu
Resumo:
Neste trabalho proponho discutir as condições epistêmicas
para a possibilidade da descoberta matemática que estão
envolvidas na lógica da inquirição matemática
de Peirce. Uma vez que Peirce desenvolve uma visão sistemática,
de obra aberta, da prática matemática, meu tratamento
proposto sobre as condições para a possibilidade de
inovação não deveria ser ad hoc; ela deveria,
ao invés, refletir e, na verdade, partir da estrutura do sistema
flexível de Peirce. Em outras palavras, este relato das habilidades
epistêmicas exigidas para o raciocínio matemático
deveria partir das categorias irredutíveis de qualidade, relação
e generalidade - ou Primeiridade, Segundidade, e Terceiridade - que
são intrínsecas à prática matemática.
Mais especificamente, eu proponho que as condições epistêmicas
necessárias para a possibilidade da descoberta matemática
sejam aquelas exigidas pelo matemático para poder detectar
e investigar com precisão os aspectos qualitativos, relacionais
e gerais da hipótese matemáticas. (Esta reivindicação
confia na concepção peirceana da matemática como
o estudo do que é verdadeiro de um estado de coisas hipotético
e sobre sua visão do método matemático como o
de experimentação sobre diagramas ou ícones que
encarnam relações formais.) De modo análogo,
Peirce descreve as habilidades do raciocínio do matemático
como os poderes da imaginação, concentração,
e generalização. Eu interpreto os três como diferentes
habilidades semióticas para raciocinar com ícones matemáticos.
A imaginação consiste no "poder de retratar distintamente
para nós mesmos configurações intricadas"
tais como diagramas matemáticos (MS 252). Concentração
é "a habilidade de pegar um problema, levá-lo a
uma forma conveniente para ser estudado, decifrar o espírito
do mesmo, e determinar, sem erro, exatamente o que ele envolve ou
não" (MS 252). O poder de generalização
é a habilidade "de ver que aquilo que parece de início
um emaranhado de circunstâncias intricadas não é
senão um fragmento de um todo harmonioso e compreensível"
(MS 252). Estas habilidades entram em jogo em diferentes estágios
do processo matemático de experimentação sobre
diagramas. Finalmente, na base deste relato prossigo com o resultado
pragmático para o desenvolvimento de um método de treinamento
de alunos em raciocínio matemático.
Palavras-chave:
Peirce. Matemática. Lógica da inquirição.
Descoberta. Imaginação. Generalização.
|
Informação
Neuronal: uma Informação Pragmaticamente Significativa?
CARVALHO,
Maria Amelia de
Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"
- UNESP - Campus de Marília - Brasil
mariamel@marilia.unesp.br
Resumo:
O termo informação neuronal foi usualmente pensado
em neurociência cognitiva como uma correlação
causal entre a probabilidade de disparo de neurônios em relação
a um determinado estimulo. Isto é, como uma medida de correlação
condicional estímulo-atividade nervosa. Este conceito de informação
apresentou problemas aos paradigmas tradicionais da neurociência
por que é um conceito oriundo da Teoria Matemática da
comunicação, e neste caso, considera-se que a informação
não veicula significado. Nas atuais investigações
neurocientíficas a informação no sistema nervoso
está associada a um conteúdo semântico. Desse
modo, é preciso dar conta de uma interpretação
deste conteúdo numa perspectiva do próprio sistema onde
o processo informacional ocorre. Entretanto, consideramos que a perspectiva
naturalizada do conceito de informação no sistema nervoso
proposta por Moreno & Barandiaran (2006) pode contribuir com as
atuais pesquisas teóricas em neurociência pois apresenta
uma concepção de informação neuronal que
veicula significado. O objetivo deste artigo é investigar,
a partir do Pragmatismo de Peirce, se esta concepção
naturalizada de informação neuronal permite considerá-la
uma informação pragmaticamente significativa. Deste
modo, com o auxílio de uma construção diagramática,
pretendemos refletir acerca do papel da informação neuronal
em condutas de percepção-ação corporal.
Palavras-chave:
Epistemologia naturalizada. Filosofia da neurociência. Informação
neuronal. Pragmatismo. Percepção-ação.
|
Uma
Abordagem Pragmatista sobre a Fundamentação dos Direitos
Humanos
CATÃO,
Adrualdo de Lima
Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Maceió, Brasil
adrualdocatao@gmail.com
Resumo:
O trabalho visa a apresentar uma visão pragmatista sobre
a ética e a fundamentação dos direitos humanos.
Quer-se afirmar que o ambiente discursivo em que os debates sobre
direitos humanos acontecem deve ser visto como incomensurável,
ou seja, um ambiente no qual os participantes não partilham
das mesmas pressuposições lingüísticas.
Diante da incomensurabilidade, todavia, o trabalho não quer
defender um relativismo cultural, e a tese de que as linguagens éticas
são intraduzíveis. Apresenta a incomensurabilidade como
uma questão de grau de entendimento, que não vem gerar
o fim da conversação ética, mas sim, estimulá-la.
A noção Kuhniana de paradigma lingüístico
é adaptada aos propósitos do trabalho, sendo apresentada
como ambiente discursivo no qual é possível estabelecer-se
um determinado grau de consenso, de forma a possibilitar a comunicação
coerente e com sentido. A tese é a de que não se pode
dar ao discurso sobre direitos humanos um caráter incondicional,
tendo em vista a existência de diversos paradigmas éticos
diferentes, presentes nas mais diversas sociedades e culturas. Isto,
contudo, não quer dizer que se deve abandonar a discussão
ética e trabalhar com uma postura irracionalista, ou mesmo
relativista. Também não se quer dizer que o discurso
pelos direitos humanos é simplesmente inviável ou não
pode ser endereçado a culturas diferentes da ocidental. Assim,
a abordagem proposta quer enfatizar que posturas intolerantes não
devem ser justificadas simplesmente pelo fato de que são "verdades"
integrantes de um determinado paradigma, e, portanto, não poderiam
ser questionadas, a não ser por critérios de dentro
do próprio paradigma. Destarte, o dualismo comensurável-incomensurável
(Rorty) aparece como uma diferença de grau e não de
gênero, demonstrando que o discurso sobre direitos humanos pode
se revestir de um caráter mais comensurável ou mais
incomensurável, na medida em que os participantes do discurso
estejam, em maior ou menor grau, inseridos num mesmo paradigma ético.
Não se defende, portanto, uma incomensurabilidade absoluta.
Em conclusão, a postura pragmatista nega, ao mesmo tempo, o
autoritarismo e o relativismo ético, sendo uma proposta teórica
para visualização do discurso pelos direitos humanos
como pautas para a educação humana visando um mundo
melhor. Nesse sentido, uma visão pragmatista deixará
de lado questões metafísicas sobre a existência
de direitos universais para que a energia dos humanos esteja concentrada
em educar e incluir democraticamente (Dewey), ou seja, educar para
aumentar a identificação entre os seres que podem ser
chamados de "humanos", na evidente defesa de uma ética
democrática.
Palavras-chave:
Direitos Humanos. Universalismo. Relativismo Ético. Democracia.
|
Um
"Problema dos Universais" Moderno: John Stuart Mill, Rival
de Peirce
CHEVALIER,
Jean-Marie
Paris-XII ; IJN/CNRS/EHESS ; ENS Ulm (França)
jeanmariechevalier@yahoo.fr
Resumo:
Pode ser que a unidade do Pragmatismo esteja do lado de seus rivais.
Adotando a visão de F.E. Abbot, de que a batalha do nominalismo
e realismo, longe de ser ter sido disputada no final do século
XV, permanece atual como sendo "o problema que subjaz a todos
os problemas", Peirce reabre o Problema dos Universais da Idade
Média, tomando partido pelo realismo de Duns Scotus contra
o nominalismo que vinha prevalecendo desde Ockham até quase
todos os filósofos modernos. Se o realismo de Peirce é
bastante conhecido, as pessoas mal se dão conta de que ele
foi construído contra uma grande e popular filosofia, a de
John Stuart Mill. No início de sua carreira, Peirce escolhe
Mill como seu alterego ockhamiano.
Esta Nova Contenda dos Universais revive a oposição
entre ockhamistas e "Dunces" (refere-se tanto a Duns Escoto
quanto à palavra "estúpido," "lerdo")
na modernidade, i.e. a lógica das ciências empíricas.
Assim, o problema da realidade dos universais depende da questão
se podemos inferir de particular para geral na ciência. Ela
lida com a indução, conhecido nos debates contemporâneos
como o Problema de Hume, mas intimamente relacionado às questões
da uniformidade da natureza e à existência das leis,
ambas discutidas por Mill.
A lógica de Mill é examinada em vários dos primeiros
escritos de Peirce até 1870. Peirce lida com o problema novamente
de 1900 a 1911 e dá um golpe de misericórdia às
obras deste "filósofo fortíssimo, mas filisteu."
A evolução da crítica de Peirce espelha a construção
de seu pragmaticismo. As primeiras observações detêm-se
especialmente na teoria do silogismo de Mill - sua definição
totalmente errônea de inferência - e na inútil
regra da uniformidade para garantir nossas induções.
Os últimos escritos repreendem Mill por recusar a realidade
das leis da natureza, e por adotar a assim-chamada posição
positivista, mas "com a mais metafísica das descrições."
A acusação pouco surpreendente de Peirce de psicologismo
na lógica de Mill (1865) deve ser vista, em 1909, como um sintoma
de uma construção metafísica muito distante da
verdadeira ciência. Assim, a evolução de Peirce
pode ser lida à luz de sua crítica de Mill: inicialmente
prisioneiro das dificuldades da lógica clássica, ele
constrói, do ponto de vista lógico, toda uma metafísica
científica. Mesmo o que aparece como ataques reiterados a Mill
(seu nominalismo, seu erro sobre conotação) na verdade
deriva das variações de seu realismo.
Peirce tende a ver Mill como o arquétipo do que ele filosoficamente
abomina. É por isso que ele por fim assevera que Mill é
inconsistente - cuja opinião é reforçada pelas
nove versões, às vezes contraditórias, da Lógica
que foram publicadas durante a vida de Peirce. Peirce associou-o a
outros pensadores rivais: Mill aparece como positivista com Comte,
nominalista com Ockham, individualista com Bentham, mau probabilista
com Laplace, etc. Um modo de dizer que Mill era tudo menos um pragmatista.
Obviamente a linha de trabalho de Mill é completamente desenhada
de acordo com a sombra que o sistema de Peirce projeta.
Um estudo da correspondência (não-publicada) entre Peirce
e Mill, completamente negligenciada pelos estudiosos de Peirce, lança
nova luz sobre sua relação.
Palavras-chave:
C.S. Peirce. J.S. Mill. Pragmatismo. Indução. Nominalismo.
Universais.
|
Abduction
and Creativity: Meaning Construction and Aesthetic Appreciation
COCCHIERI,
Tiziana & OLIVEIRA, Luis Felipe
Universidade Estadual Paulista - UNESP; Universidade Estadual de Campinas
- UNICAMP
cocchieri@gmail.com
oliveira.lf@gmail.com
Abstract:
In this paper we establish the relation among the concepts of
aesthetic appreciation, abduction and creativity. We start presenting
the concept of abductive reasoning, one of the three principal forms
of logical inference described by C.S. Peirce in his pragmatic philosophy.
Within the relation of abduction, creativity and meaning construction,
abduction can be understood as the kind of reasoning that culminates
in a temporary assimilation of an explanative hypothesis, which holds
conjectural procedures; i.e., abduction is the logical operation that
can introduce new ideas. With other logical inferences, deduction
and induction, there is no creative process, for anything one can
know is already present in the premises, as a matter of necessity
or probability respectively. In other words, abduction is the only
inferential form that makes knowledge acquisition possible. In a second
moment, after we have verified how that relation of abductive reasoning
and creativity occurs, we present the idea that aesthetic appreciation
might be understood as an act of meaning construction. Thus, artistic
meaning in this perspective cannot be considered as an already-given
object enclosed in the work, neither as a purely subjective and non-formal
elaboration, nor as an extrinsic imposition furnished by art criticism.
Conversely, we propose the hypothesis that meaning in art is a process
of work reading not different from other processes of meaning construction
in several domains; it is a particular case of a more general and
methodic process described by Peirce, that operates over the three
forms of logical inference. Lastly, we illustrate our hypothesis with
the analysis of some pieces of art, in music and in visual arts.
Keywords:
Abduction. Meaning. Art. Aesthetic Appreciation.
|
Outro
dos "Erros de Descartes": Peirce e a Racionalidade Natural
das Emoções
DEROY,
Ophelia
Universidade de Paris XII
ophelia.deroy@laposte.net
Resumo:
Quando falam de emoções, as pessoas mencionam James.
Quando falam de Peirce, elas sublinham seus métodos de inquirição,
sua lógica, sua concepção de verdade. Os dois
tinham coisas importantes para dizer em cada um destes domínios,
mas conseqüentemente, sua proximidade é tornada um tanto
problemática. Mais importante ainda, o papel específico
e o cômputo das emoções dados por Peirce é
freqüentemente ignorado. Mas como é que se reconciliam
emoção e razão? Que tipo de papel elas têm
no funcionamento da mente? Que emoções estão
então em jogo, e como um peirceano as computa? Neste trabalho
dou uma visão panorâmica da teoria peirceana das emoções
e seu papel no raciocínio, enquanto sublinho alguma proximidade
com James e com algumas teorias naturalistas das emoções
atuais. O cômputo peirceano difere destes em pelo menos três
pontos: primeiro, emoções não são dadas,
mas desenvolvidas e até aprendidas; segundo, emoções
são principalmente sociais; terceiro, elas têm valor
cognitivo, como a semiótica mostra. Com estas três categorias,
pode se usar Peirce para dar uma teoria das emoções
como respostas adequadas ao mundo, e para reabilitar algumas antigas
concepções da racionalidade como imanentes e naturais.
|
Direito,
Verdade e as Conseqüências Práticas: uma Análise
Pragmática do Realismo Jurídico
FEITOSA,
Enoque
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Brasil
enoque.feitosa@uol.com.br
Resumo:
O propósito desta comunicação é analisar
alguns aspectos do realismo jurídico - através de um
de seus mentores, Oliver W. Holmes Jr. - sob a ótica da metodologia
pragmática. O paradigma adotado é o pressuposto peirceano
acerca do conceito de verdade. Por focar o fenômeno jurídico
na atividade de juízes e tribunais, o realismo jurídico
guarda afinidades com o pragmatismo, particularmente quanto às
implicações metodológicas de Peirce. Ao subordinar
a aceitação de qualquer idéia - verdade, justiça,
bem - ao exame das suas conseqüências práticas,
Peirce descreve os passos a serem seguidos pela filosofia pragmática
na formação dos conceitos, passos estes fundados na
experiência pois, se não temos o dom da introspecção,
todo o conhecimento interior só derivaria da observação
do mundo. Por isto é que no realismo jurídico há
a consciência, resultante do exame da atividade dos juízes
e tribunais, de que os magistrados formulam seus julgamentos - em
especial nos casos difíceis - num processo de duas etapas,
onde a primeira é a própria conclusão, que é
inspirada no que é mais conforme com o sentimento e idéia
de justiça do julgador, estribado na sua educação,
formação, valores e tradições e só
depois é que busca a motivação técnica,
isto é, as justificativas ou ratio decidendi apenas como acréscimo,
muito embora por disposição legal elas estejam topologicamente
antecedentes àquelas motivações. A teoria do
direito, presa ao modelo formalista-positivista, parece ainda não
ter conseguido fornecer um modelo de justificação adequado
à complexidade do fenômeno jurídico. A coincidência
histórica de filósofos e juristas viverem numa época
e numa sociedade fortemente apegada à experiência e com
um forte viés antimetafísico (embora tenham, não
sem alguma ironia, denominado seu grupo de estudos de "clube
metafísico") forneceu os instrumentos filosóficos
e metodológicos a essa corrente jurídica herdeira do
pragmatismo, cuja contribuição jusfilosófica
ainda é pouco estudada no Brasil, dado que durante muito tempo
houve resistências, aqui, a essa forma de reflexão. Sinteticamente,
o pragmatismo se caracteriza por sua atitude de considerar que todas
as teorias, a moralidade, os valores, gozam apenas de veracidade instrumental
na medida em que são aptos a atingir os objetivos a que se
propõe o indivíduo ou a sociedade. Por sua vez, no realismo
jurídico, a discussão do que juristas chamam de as razões
do direito só tem sentido se tal reflexão for ancorada
na medida de utilidade desse fenômeno de regulação
da vida social. A idéia de Oliver W. Holmes Jr., de que o fundamento
do direito não é a lógica e sim a experiência
tem o mérito fundamental de levar em conta as influências
sociais e históricas que não podem ser abstraídas
da compreensão do que é o Direito. A hipótese
de que o conceito holmesiano de experiência se aproxima da idéia
de experiência no pragmatismo e que tal contigüidade torna
aplicáveis os princípios pragmáticos ao Direito
é o eixo de nossa comunicação e se coloca então
como uma possibilidade de resposta, ainda não plenamente explorada,
dos problemas postos pela teoria jurídica contemporânea.
Esta é a hipótese desta comunicação.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Direito. Realismo Jurídico.
|
Acerca
da Vocação Pragmática do Realismo Jurídico
Americano a partir das Idéias de Benjamin Cardozo sobre a Natureza
do Processo Judicial
FREITAS,
Lorena
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Brasil
lorenamfreitas@hotmail.com
Resumo:
O objetivo desta comunicação insere-se num campo
interdisciplinar envolvendo Filosofia e Direito. O propósito
do estudo consiste em identificar os fundamentos do realismo jurídico
americano em suas articulações com a filosofia pragmática.
O pragmatismo encontra suas raízes no século XIX no
chamado "Clube Metafísico de Boston". Como uma filosofia
da ação pressupõe uma abordagem metodológica
inovadora por romper com os cânones das clássicas abordagens
lógico-metafísicas. Um dos primeiros pensadores a se
preocupar com o problema foi Charles Sanders Peirce no seu consagrado
"paper" How to make our ideas clear. Todavia foi William
James que, de forma feliz e sobretudo pertinente cunhou uma definição
sobre o pragmatismo que se tornou famosa; segundo ele o pragmatismo
é, sinteticamente, um novo método para tratar velhas
idéias. Uma vez que a nossa proposta toma o fenômeno
jurídico como objeto de análise, elegeu-se o juiz da
Suprema Corte Americana Benjamim Nathan Cardozo - sucessor de Oliver
Wendel Holmes Jr. - como um intérprete e principalmente um
aplicador da filosofia pragmática no desempenho de atividade
judicante. Quanto à justificativa, observa-se que há
uma seqüência e conseqüência entre os grandes
pragmatistas, Peirce dá uma nova conotação ao
problema lógico; James explora os elementos psicológicos
visto sob o ângulo da sua teoria intitulada "corrente da
consciência"; Holmes, como pragmatista jurídico,
retira o direito da esfera lógico-metafísica para trazê-lo
à realidade experiencial (histórica); Cardozo, por fim,
é o grande articulador dessas idéias por tentar demonstrar
como elas efetivamente acontecem nos caldeirões dos tribunais
(como o próprio cita). Assim procurar-se-á, á
luz das idéias de Cardozo, verificar em que medida o método
pragmático corresponde aquilo que o já citado William
James menciona: "um método capaz de assentar disputas
metafísicas" voltado para o âmbito jurídico
uma vez que as teorias tradicionais não mais dão conta
desses problemas como eles se manifestavam na dinâmica do contexto
social. Discutir estas hipóteses acerca da vocação
pragmática e sua inserção no realismo jurídico
americano a partir das idéias de Benjamin Cardozo sobre a natureza
do direito é, pois, o objetivo da comunicação.
Palavras-chave:
Pragmatismo. William James. Realismo. Benjamin Cardozo.
|
Eluding
the Demon - How Extreme Physical Information Applies to Semeiosis
and Communication
FRIEDEN,
B. Roy ; ROMANINI, Vinicius
University of Arizona ; University of São Paulo
roy.frieden@optics.arizona.edu
viniroma@gmail.com
Abstract:
C.S. Peirce states that a sign represents only some aspect of
an object, which means that no representation can be perfect. The
form - or information - grounding the sign's ability to represent
its object is always deficient in some measure. If we take the difference
between the form of the object and the form represented in the sign
to be a physical one, the flow of semeiosis can be taken as a flow
of information, and consequently, a knowledge game by which the interpretant
tries to improve the information grounding the sign, amplifying its
ability to represent. The other player in the game, the dynamical
object, takes the role of a demon, always changing its form to escape
a complete symbolic interpretation. The Extreme Physical Information
(EPI) theory, formulated by the American physicist Roy Frieden in
1998, shows how the pay off of this game is always on the side of
the interpretant. This explains why semeiosis is teleologic and naturally
tends towards an increase of information and knowledge in a community
of interpretants pragmatically engaged in the inquiry by means of
communication. It also explains why intelligence can evolve among
living creatures - their observations tend to be accurate, and accuracy
is a prerequisite for effective behaviour. It results that their fitnesses
go up, so that evolution favors their existence.
Kay
words :
Semeiosis,.Extreme
Physical Information. Peirce. Fisher. Frieden. Communication.
|
O
Papel dos Diagramas - Analógico-digitais - no Processo Projetivo
em Design
GHIZZI,
Eluiza Bortolotto
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Brasil
ghizzi@nin.ufms.br
Resumo:
Este texto tem como objeto de estudo o signo icônico diagramático,
tal como pode ser observado e analisado nos croquis que participam
dos processos projetivos em design. Este estudo já conta com
um desenvolvimento inicial publicado no texto "Arquitetura em
diagramas" - apresentado no 8º Encontro Internacional sobre
Pragmatismo e publicado na COGNITIO-ESTUDOS: Revista Eletrônica
de Filosofia, v3, n2, 2006. Nesse primeiro texto analisamos a prática
projetiva em arquitetura como conduzida por um processo dedutivo que
se atualiza em signos icônico-diagramáticos (os desenhos),
apontando as características gerais desse processo. Neste segundo
desenvolvimento sugerimos que tais características abarcam
os processos projetivos em design de modo geral (arquitetônico,
gráfico, de objeto) e, para subsidiar a argumentação,
recorremos a estudos de autores que analisam a metodologia de projeto
em design. Além disso, introduzimos reflexões sobre
a participação de desenhos digitais nesses processos.
Como referencial teórico e metodológico utilizamos a
semiótica peirceana, particularmente a "gramática
especulativa" e a "lógica crítica". Como
resultado, apontamos o aprofundamento da idéia de que o processo
diagramático é modo pelo qual são definidos tanto
o conceito associado ao projeto quanto a forma particular deste. Ainda,
influencia uma prática predominantemente experimental, propícia
ao caráter inovador que se busca nos processos projetivos em
design. Concluímos, também, que a introdução
da mediação por diagramas digitais nesses processos
pode amplificar ou restringir - tomando-se como referência a
mediação por desenhos analógicos (à mão
livre) - esse potencial inovador, conforme o uso que se faça
dos recursos de desenho no ambiente digital.
Palavras-chave:
Signo icônico-diagramático. Argumento dedutivo. Desenho
analógico. Desenho digital.
|
A
Experiência de Contemplação em Peirce e em Schopenhauer
GUIMARÃES,
Daniel de Vasconcelos; SANTOS, Adriana M. Gurgel
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- PUC/SP - Brasil
daniel_area26@hotmail.com;
seres003@gmail.com
Resumo:
Este ensaio propõe uma investigação acerca
da possibilidade de aproximação entre as filosofias
de Charles Sanders Peirce e Arthur Schopenhauer, a partir do estudo
da experiência interna de Primeiridade [firstness] do primeiro
autor (entendida como a contemplação imediata do objeto
pelo sujeito), e do conhecimento da Idéia (a contemplação
do objeto pelo puro sujeito de conhecimento, e não mais por
um indivíduo) no segundo autor. Pretende-se ainda ressaltar,
dentro de uma (ainda em incubação) estética peirciana,
e de acordo com a metafísica do Belo de Schopenhauer, a relação
da Arte com a experiência de contemplação. Para
estabelecer uma relação entre as filosofias dos dois
autores é interessante mencionar ainda que os métodos
de compreensão, e talvez mesmo os métodos de exposição
de suas idéias não parecem incompatíveis. Serão
tomados como referência, a fim de empreender os objetivos mencionados,
os Collected Papers de Peirce e a principal obra de Schopenhauer,
O mundo como vontade e como representação. Para Peirce,
ao se contemplar uma pura qualidade de sentimento [quality of feeling],
ou, para Schopenhauer, na contemplação da Idéia
(entendida aqui como a forma eterna, a objetivação imediata
da Vontade, tal qual exposto no Livro III de O mundo), ocorre a perda
da individuação do sujeito, ou seja, a superação
de si mesmo como indivíduo, numa experiência onde o fluxo
do tempo é suprimido - é no hiato do presente em que
ela se dá. De acordo com Peirce, a contemplação
fenomenológica constitui-se como uma experiência de unidade,
de pura imediação dada pela qualidade de sentimento;
contemplar é comungar com o absoluto, ser uno com o objeto.
Nessa experiência de infinito, de liberdade, o mundo mostra-se
em sua mais profunda essência, e o sujeito encontra-se livre
do querer. Em Schopenhauer, quando a consciência inteira é
preenchida pela contemplação do objeto - seja ele natural,
uma paisagem ou uma árvore, ou ainda uma construção
ou uma obra de arte -, há uma dissolução do indivíduo
no próprio objeto; a coisa particular se torna a Idéia
de sua espécie, e o indivíduo se eleva a puro sujeito
do conhecer, ambos excluídos de todas as formas do princípio
de razão (a forma de conhecimento dos indivíduos). Quando
a Idéia aparece, sujeito e objeto não são mais
diferenciáveis, do ponto de vista teórico, segundo as
formas secundárias da representação (espaço,
tempo e causalidade). Há supressão do tempo, as relações
desaparecem, a personalidade se ausenta. Assim é que o mundo
como representação aparece inteiramente, e ocorre a
objetivação da coisa-em-si, ou seja, da Vontade, em
diferentes graus. E a Arte, a obra de arte do gênio, é
o modo de conhecimento que repete as Idéias eternas apreendidas
por pura contemplação, expondo-as como arte plástica,
poesia ou música. A arte retira o objeto de sua contemplação
do curso do mundo, isolando-o diante de si. Para Peirce, infere-se
que a arte tem o papel de recolhimento do sentido, de representação
de um universo que a linguagem lógica não pode dar conta
- um universo de liberdade, singularidade e originalidade.
Palavras-chave:
Peirce. Schopenhauer. Contemplação. Arte.
|
Objetividade
do Conhecimento e Autonomia do Mundo Cultural
GRIGORIEV,
Serge
Universidade Temple - Pensilvânia, EUA
serge@temple.edu
Resumo:
Neste trabalho faço uso da distinção peirceana
entre os modos de evolução anancástica e agapástica
para ressaltar o que considero como as tensões estratégicas
no relato evolucionário da objetividade de Karl Popper. A distinção
entre o conhecimento subjetivo e o objetivo constitui um dos temas
centrais da filosofia da ciência de Popper. Popper localiza
o subjetivo na esfera das experiências e crenças conscientes;
e o objetivo, na esfera dos produtos culturais da mente humana, tais
como as teorias. Não deixa de ser interessante, Popper afirma
que os habitantes desta última esfera ("mundo 3,"
no seu idioma) gozam de certa autonomia em relação à
esfera das experiências conscientes (ou "mundo 2").
Em outras palavras, do ponto de vista de Popper, o conteúdo
de nossas teorias deve ser determinado por algo além e acima
do conteúdo específico de nossas práticas discursivas.
Esta sugestão é muito mais intrigante uma vez que Popper
explicitamente nega a possibilidade de uma confrontação
não mediada entre nossas teorias e eventos no mundo das coisas
físicas ("mundo 1"), que serve como nosso paradigma
do real. Meu argumento indica que a interpretação do
relato de Popper da autonomia e objetividade do mundo cultural depende
do modo como ele constrói a noção axial da intersubjetividade,
que pode ser lida quer ao longo de linhas anancásticas ou agapásticas,
com a última sendo uma alternativa mais promissora.
|
Pragmatismo
Clássico e o Direito: em Busca de uma Teoria Normativa Evolucionista
HERDY,
Rachel
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
herdy@jur.puc-rio.br
Resumo:
Este trabalho consiste numa investigação sobre as
possibilidades que uma abordagem pragmatista abre para a Filosofia
do Direito. Busca-se analisar especificamente o problema do desafio
intercultural à universalidade dos direitos humanos. Muitos
juristas encontram-se freqüentemente frustrados quando tentam
avançar seus argumentos desde a realidade positiva de um regime
internacional de direitos humanos, conforme estabelecido por tratados
e decisões judiciais recentes e em franco desenvolvimento,
para uma dimensão mais abstrata de justificação
normativa da "crença" em normas de direitos humanos
universalizáveis. A frustração aumenta diante
das variações incomensuráveis percebidas entre
as culturas jurídicas do mundo. O tratamento do tema inicia-se
com uma caracterização do que significa adotar uma posição
pragmatista em face do problema da universalidade na teoria normativa.
Recorre-se a uma versão considerada "neoclássica"
do pragmatismo, presente nos argumentos de Susan Haack (na trilha
do pensamento de Charles Sanders Peirce). Pretende-se, a partir daí,
refletir sobre a maneira como esta versão neoclássica
do pragmatismo dá conta do problema de justificação
objetiva das crenças melhores-ou-piores em vista das normas
de Direito suscetíveis de universalização. Se
a tese aqui proposta estiver correta, parece ser possível fornecer
aos teóricos e praticantes de direitos humanos uma filosofia
social e jurídica evolucionista que permite a evasão
da falácia do etnocentrismo e a busca de uma satisfação
empírica para os problemas da universalidade e da normatividade
na Filosofia do Direito.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Direito. Realismo. Teoria Evolucionária. Universalismo.
Crença. Experiência.
|
Qualia
e Consciência: uma Releitura Peirciana
JORGE,
Ana Maria Guimarães
Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP-SP). Brasil.
ana.gui@terra.com.br
Resumo:
Este ensaio pretende repensar conceitos de qualia e de consciência
a partir de leituras contemporâneas das ciências da cognição
e das filosofias da mente, com apoio na obra de Charles Sanders Peirce
(1839-1914). Esta reflexão aponta para as marcas de tensão
entre posturas dualistas e fisicalistas que buscam comprovação
localizada dos fenômenos qualitativos dos sentimentos, sensações
e emoções na mente humana. Sob viés diferenciado
se enuncia leitura em que sejam evidenciadas marcas para a conaturalidade
mente e matéria, e continuidade no conceito de consciência.
Assim, toda consciência é possível se houver intersecção
entre fenômenos subjetivos e objetivos.
Palavras-chave:
Mente. Qualidades de sentimento. Consciência. Filosofia
da mente.
|
Pragmatismo
e Sistemas Comunicacionais de uma Instituição de Saúde:
Integrando Concepções e Conseqüências Práticas
LEÃO,
Frederico Camelo
Doutorando em Comunicação e Semiótica, PUC-SP,
Brasil
leaofc@gmail.com
Resumo:
Que conseqüências práticas uma orientação
religiosa pode ter em uma instituição de saúde?
Quais são as consistências entre a filosofia institucional
e suas aplicações práticas? Como avaliar essas
conseqüências tanto no âmbito interno da instituição,
como em suas repercussões na comunidade e sociedade? De acordo
com a máxima do pragmatismo de Charles Sanders Peirce, o significado
de um conceito é a totalidade concebível de suas conseqüências
práticas. O objetivo do presente artigo é aplicar o
pragmatismo peirceano no estudo das relações entre o
código de valores (filosofia organizacional) e as conseqüências
da aplicação desses valores nas ações
práticas de uma instituição de saúde.
Nesse sentido, o artigo inicia apresentando uma cartografia das concepções
norteadoras que fundamentam os sistemas comunicacionais da instituição
de saúde FEAL - Fundação Espírita André
Luiz. Dedicada à filantropia e atendimento de 1200 portadores
de doença mental carentes, a FEAL tem suas ações
fundamentadas a partir de uma orientação religiosa espírita
e o hospital associa práticas da medicina ortodoxa e, de maneira
complementar, terapias espirituais. A segunda parte do artigo se dedica
a apresentar um relato de caso que evidencia as consistências
entre teoria e prática. Nas conclusões, apresenta-se
um modelo que aponta para possíveis caminhos e desdobramentos
em outras instituições.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Peirce. Sistemas Comunicacionais. Instituição
de Saúde.
|
A
Estética Pragmatista e a Reflexão sobre Arte
LEÃO,
Lucia
Centro Universitário Senac, SENAC, São Paulo, Brasil
lucia@lucialeao.pro.br
Resumo:
O objetivo deste artigo é discutir a experiência
estética das ações em rede e refletir sobre as
dimensões políticas de projetos que povoam o ciberespaço
e permeiam as práticas no cotidiano da cibercultura. Para isso,
iremos aplicar a estética pragmatista, tal como foi proposta
por John Dewey (Art as experience, 1934) e Richard Shusterman (Pragmatist
aesthetics, 1992). Com a inserção das tecnologias digitais
e das redes telemáticas nas práticas cotidianas, novas
maneiras de interação se tornam possíveis. Questões
como produção, distribuição e acesso de
dados se somam à emergência de práticas colaborativas,
comunidades digitais, problematização de conceitos como
autoria e obra de arte e dissolução de fronteiras entre
tempo e lugar. A ciberarte engloba as investigações
poéticas que problematizam e/ou subvertem as tecnologias das
novas mídias. Nessa ampla categoria, encontram-se projetos
que se apropriam das redes (Net arte), sistemas de realidade aumentada,
realidade virtual, assim como aqueles que atuam em espaços
cíbridos, compostos pela convergência de redes in\off
line, entre outros. Os projetos de ciberarte colocam diversos problemas
quando estudados à luz da estética analítica
uma vez que o próprio conceito de objeto de arte não
pode ser aplicado. Nesse sentido, compreender as complexidades da
ciberarte exige uma série de reformulações teóricas.
A escolha da aplicação do programa da estética
pragmatista se justifica à medida que esta oferece uma visão
livre de oposições e dualismos, ao mesmo tempo em que
evidencia a continuidade entre vida, ações políticas
e experimentação criativa.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Estética. Redes. Cibercultura. Ciberarte.
|
Inércia
e Dinâmica no Mundo da Ciência: Algumas Considerações
sobre o Princípio do Falibilismo e o Problema de Verdade nas
Teorias Científicas
LINS,
Alessandra Macedo
Faculdade Maurício de Nassau - FMN - BRASIL
alemacedolins@yahoo.com.br
Resumo:
Nosso propósito nesta comunicação é
o de fazer uma comparação entres as epistemologias de
Charles S. Peirce e Karl Popper. Analisaremos, portanto, os aspectos
epistemológicos com o intuito de que a presente investigação
possa nos fornecer luz diante de algumas questões fundamentais
como verdade e crença, que se encontram na base das referidas
teorias.
Parece bastante ingênuo o conhecimento que exclui o sujeito
da relação e se apega à noção de
conhecimento enquanto reflexo do real, o que implicaria, nesse sentido,
uma busca incessante por "verdades em si", as quais não
serão passíveis de superação.
A idéia de que devemos partir de um fundamento único
foi herdada do cartesianismo, mas isso não significa que devemos
continuar condicionados a pensar dessa forma limitadora que domina
o consciente do homem ocidental, na convicção de que
o fundamento último do conhecimento apóia-se ou na pura
racionalidade ou exclusivamente na realidade objetiva.
O falibilismo, ao admitir reconhecimento do erro como possibilidade
do conhecimento científico, quebra o paradigma de validade
inquestionável do conhecimento adquirido. Analisaremos o trabalho
de dois filósofos que desenvolveram a noção de
refutabilidade das teorias científicas - Peirce e Popper -
e ao final da comunicação esboçaremos algumas
considerações sobre a teoria do conhecimento complexo.
Segundo Morin, "o conhecimento tem várias fontes e nasce
da sua confluência, no dinamismo recorrente de um anel em que
emergem conjuntamente sujeito e objeto; este anel em comunicação
com o espírito e o mundo, inscritos um no outro, numa co-produção
dialógica em que participa cada um dos termos e momentos do
anel" (Morin, 2000).
Inicialmente, é importante esclarecer que Popper em sua obra
não reconhece os possíveis pontos de aproximação
de sua teoria com a teoria proposta pelo pragmatismo peirciano. No
entanto, ao avaliarmos suas obras, podemos claramente perceber um
alto grau de semelhança, o que nos impulsiona para construção
deste trabalho.
A concepção clássica de ciência fundada
na visão cartesiana que nesta investigação pretendemos
questionar parece provocar uma espécie de "miopia",
apega-se de tal forma à ordem e ao conhecido que acaba por
se encontrar impossibilitada de ver o novo. A vertente mais radical
desemboca num determinismo e, por extensão, numa escatologia.
Sempre voltado para o passado para tentar prever o futuro, o que acaba
por bloquear a visão complexa do conhecimento, mascarando a
impossibilidade de apreendermos o todo numa perspectiva "verdadeira".
Nossa discussão será apresentada neste trabalho com
o intuito de desmascaramento da condição limitada do
conhecimento, fruto da necessidade de posse e controle a que estamos
acostumados. Abre-se a necessidade de reconhecimento da condição
limitada e falível do sujeito na relação gnosiológica.
Palavras-chave:
Ciência. Cartesianismo. Falsabilismo. Verdade. Refutabilidade.
|
"As
Variedades da Experiência Religiosa" de William James Revisitada
LOUCEIRO,
Luís Malta
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- Brasil
louceiro@uol.com.br
Resumo:
Em 1901 coube a William James (1842-1910) dar as prestigiosas
Gifford Lectures em Edinburgo, Escócia, onde falou sobre "As
Variedades da Experiência Religiosa," publicadas pela The
Modern Library (NY) em 1902. Interessar-nos-á, aqui, rever
especialmente as Palestras XVI e XVII, em que ele aborda o "Misticismo"
- e apresentar o Yoga clássico indiano, como foi codificado
por Patañjali no século II AEC, como uma Ciência
que leva à Experiência Unitiva ou Integrada - e a Palestra
XVIII, que trata da "Filosofia," uma vez que Schelling (1775-1854)
-, que influenciou tanto Emerson (1803-82) quanto Peirce (1839-1914)
-, ante o impasse legado por Leibniz (1646-1716), Spinoza (1632-1677)
e Kant (1724-1804), recorreu, precisamente, ao Panteísmo das
Upanishads (séc. VIII a.C.), de Fichte (1762-1814), Eckhart
(c.1260-c.1328) e Böhme (1575-1624) para dar um novo rumo à
Filosofia Ocidental.
Palavras-chave:
Panteísmo. Schelling. Emerson. Peirce. James. Misticismo.
|
Sobre
a Análise do Argumento a partir da Analogia de Peirce: as Preliminares
de um Relato Grupo-Teórico
MC
CURDY, William James
Universidade do Estado de Idaho em Pocatello, EUA
mccuwill@isu.edu
Resumo:
O argumento a partir da analogia é uma das formas de raciocínio
mais importantes e mais freqüentemente usadas. Immanuel Kant,
em notas que se tornariam suas Conferências sobre Lógica,
escreveu "Nenhum lógico ainda desenvolveu a analogia e
a indução adequadamente. Este campo está em aberto."
Mais tarde, um jovem leitor de Kant veio a se tornar um grande lógico,
em parte, por ter desenvolvido adequadamente o campo lógico
da indução assim como aquele de seu anverso, a abdução.
Ele também analisou o argumento a partir da analogia. Ao invés
de erroneamente classificá-lo como uma espécie estranha
de indução ou de tratá-lo como um enteado da
lógica, a ser relegado à seção de miscelâneas
no final dos livros de lógica, C. S. Peirce sistematicamente
relaciona tanto o argumento da analogia para, enquanto também
o distingue dos, argumentos da dedução, indução
e abdução. Esta grande contribuição tanto
para a lógica quanto para a metalógica tem sido pouco
percebida e ainda menos apreciada mesmo por estudiosos de Peirce.
Esta negligência deveria acabar e o crédito, há
muito devido a Peirce, ser-lhe dado.
Este trabalho explicará primeiramente a análise bipartite
básica do argumento a partir da analogia de Peirce, por um
lado, para a abdução e a dedução e, por
outro lado, para a indução e a dedução.
Esta análise estará então justificada. Em seguida
abordarei a teoria de grupos, em especial o conceito de ação
grupal, q eu será apresentado e então usado para exibir
diagramaticamente e exprimir algebricamente a ação recíproca
da forma híbrida de raciocínio, que é o argumento
a partir da analogia com as formas de dedução, indução
e abdução. Ênfase especial será dada ao
grupo Klein 4, que tem um papel importante, porém geralmente
negligenciado, na lógica. Por fim, o trabalho terminará
com uma ampliação da análise de Peirce para mostrar
especificamente como o argumento a partir da analogia está
intimamente relacionado à analogia pitagórica, quer
seja, às analogias de quatro lugares da forma A : B :: C :
D (A está para B como C está para D) com a qual ela
está freqüentemente associada, mas cuja associação
ainda não foi nem adequadamente elucidada nem justificada.
Palavras-chave:
Argumento a partir da Analogia. Analogia. Teoria de Grupo. Ação
de Grupo. Grupo Klein 4.
|
O
Existencialismo de Peirce
MAIN,
Robert
Universidade Temple - Pensilvânia, EUA
robmain@temple.edu
Resumo:
Estudos recentes sobre Peirce fizeram aparecer tanto um renovado
interesse na doutrina peirceana do falibilismo quanto uma grande ênfase
no papel da experiência nas estratégias argumentativas
de Peirce. Este trabalho reúne estes dois temas por meio de
uma intuição originalmente proposta por David Savan,
que assevera que "uma visão semi-religiosa pela qual o
único nome adequado é existencialista" é
central à teoria da inquirição peirceana. Este
trabalho adota a leitura existencialista de Savan para poder analisar
os primeiros trabalhos anticartesianos de Peirce e sua crítica
à dúvida cartesiana. Argumento que, ao passo que Peirce
realmente se opõe à versão da dúvida universal
de Descartes, ele não rejeita, como tem sido asseverado, todas
as formas de dúvida universal. Pelo contrário, meu argumento
é que Peirce reformula o ceticismo cartesiano como falibilismo,
de um modo que retém o status anterior como condição
de inquirição com escopo universal e que ocupa uma posição
central dentro da filosofia peirceana. O falibilismo assim construído
é não somente a doutrina em que quaisquer das crenças
individuais de alguém possam estar erradas, i.e. abertas à
dúvida; ao contrário, é uma conseqüência
necessária do reconhecimento da finitude do ego humano. Peirce,
assim, apresenta um relato que, como as filosofias existencialistas
tradicionais, está fundado em uma caracterização
específica da egoidade na qual as características definidoras
são limitação e finitude. Entretanto, ele também
caracteriza a verdade e mesmo a realidade como sendo transcendentes,
separadas do indivíduo existente por uma distância infinita.
A conseqüência deste falibilismo, então, é
que o princípio governante da inquirição se torna,
na prática, uma esperança paradoxal; a verdade, como
resultado da inquirição infinita, é necessariamente
inatingível por inquiridores finitos, falíveis, mesmo
quando eles formam uma comunidade (finita). Esta separação
entre a prática da inquirição e seu fim ideal
já contribuiu para argumentos asseverando que a filosofia de
Peirce sofre de um paradoxo fatal e é responsável pelas
tradicionais caracterizações polarizadoras de Peirce
com respeito ás questões do nominalismo, realismo, idealismo
e transcendentalismo. Ofereço a sugestão que, adotando
uma leitura "existencialista" do falibilismo (no sentido
qualificado defendido por Savan e que não ignora ou diminui
o pragmaticismo de Peirce) como sendo o elemento central do pensamento
de Peirce, isso possibilitaria um relato que evita tais dilemas.
|
Considerações
Pragmáticas do Conceito de Informação
MIRANDA,
João Gabriel Jeziorny
Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus Marília - Brasil
joaojeziorny@marilia.unesp.br
Resumo:
O conceito de informação tem sido estudado de modo
sistemático principalmente por pesquisadores das áreas
da Ciência Cognitiva, Matemática, Física e Biologia.
O objetivo perseguido por tais pesquisadores é saber de maneira
mais eficiente como manipular, armazenar, disseminar, reproduzir,
e interagir com os dados informativos, sendo suas preocupações
centrais os conceitos de mensurabilidade e quantidade de informação
gerada por uma fonte, a capacidade de transmissão do canal,
assim como sua eficácia na transmissão de dados Neste
contexto, a informação é vista em termos de transmissão
e recepção de mensagens. Como podemos notar, o direcionamento
desses estudos da informação é basicamente técnico,
por isso fogem de seus domínios questões de cunho epistemológico,
ontológico e pragmático inerentes ao conceito de informação
bem como sua relação com os processos de aquisição
do conhecimento. O objetivo da nossa comunicação é
realizar uma explicitação do caráter epistemológico
e ontológico da informação, indicando seu possível
vínculo com o conhecimento e seu subseqüente desdobramento
prático. Nesse sentido, analisamos a filosofia proposta por
Charles S. Peirce (1931, 1958), principalmente sua lógica,
denominada Semiótica. Assim sendo, na perspectiva epistemológica,
defendemos a hipótese que a informação é
o elemento responsável pela fundamentação e justificação
de crenças. No viés ontológico, procuramos mostrar
que informação, longe de ser uma substância, uma
entidade ou coisa, pode ser identificada como um processo semiótico.
E, pragmaticamente, concebemos a informação como aquilo
que propicia a obtenção, a quebra e a mudança
de crenças (conhecimento) que servirão de fundamento
para a ação de um agente situado em seu ambiente.
Palavras-chave:
Informação. Semiótica. Pragmatismo.
|
O
Papel do Significado da Informação na Direcionalidade
da Ação: uma Reflexão Pragmática
MORAES,
João Antonio de; RODRIGUES, Gilberto César Lopes
Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Marília
- Brasil
moraesunesp@yahoo.com.br
gilbertocesar@gmail.com
Resumo:
O objetivo deste trabalho é analisar como o aspecto semântico
da informação participa da direcionalidade da ação.
Tal análise se apoiará em duas bases: no pragmatismo
de Peirce (1958), particularmente na sua concepção de
como o significado resulta da relação semiótica;
e na hipótese da formação de significados por
parte dos processos informacionais, conforme formulada por De Tienne
(2007). Recentemente o estudo da ação tomou nova direção
com a inclusão das teorias da informação. No
entanto, essa combinação pouco avançou no entendimento
dos processos subjacentes a ação porque tais teorias
tomam como base a Teoria Matemática da Comunicação
(Shannon, 1949), que não consideram seu "caráter
semântico". Em contraste, argumentaremos que a direcionalidade
da ação é resultado da interação
entre o organismo, inserido em um ambiente rico de informação
significativa, e os signos que ali estão. Assim, o propósito
dessa análise é avaliar em que medida a compreensão
do aspecto semântico da informação permitiria
avançar na explicação da direcionalidade da ação.
Palavras-chave:
Informação. Significado. Direcionalidade. Ação.
|
O
Conceito de Informação no Contexto da Filosofia Pragmática
Peirceana
MORONI,
Juliana
Universidade Estadual Paulista - UNESP - Marília - Brasil
Juliana-moroni@marilia.unesp.br
Resumo:
O presente texto tem como objetivo analisar as três categorias
fenomenológicas peircianas no que se refere a sua relação
com o conceito de informação. De acordo com Peirce,
todos os fenômenos ocorrentes no mundo podem ser entendidos
e reduzidos à seguinte tríade: primeiridade, segundidade
e terceiridade. Conforme ressalta Santaella (2004), através
da inter-relação entre as categorias dessa tríade,
a fenomenologia peirceana caracteriza a mente como inseparável
da matéria e intrinsecamente ligada à ação.
Mente e matéria são consideradas um continnum controladas
por hábitos instanciados pela categoria da terceiridade. Procuramos
mostrar que tais hábitos universalizados e incorporados na
terceiridade transmitem informação que irá direcionar
o comportamento dos organismos no meio em que vivem. Nestes termos,
toda a forma de conhecimento é naturalizada e, assim como a
informação, só se constitui em ação
significativa quando inserida em um contexto. De acordo com Santaella
(2004), a teoria epistemológica peirceana está baseada
em um método cujo ponto central é designado por um processo
em que um estado de crença específica (por meio de informações)
é submetido a um estado de dúvida (também específica)
visando atingir um novo estado de crença específica,
e assim continuamente, sem chegar, contudo, a conquista da verdade
ou do conhecimento absoluto. Argumentamos que Peirce adota uma abordagem
externalista da informação, atribuindo valor à
experiência, ao hábito e à ação
dos agentes situados no mundo. Conhecimento e informação
estão imbricados e caracterizam-se por funcionarem como um
processo cumulativo em espiral no qual a ocorrência das etapas
posteriores depende das anteriores. A informação é
um processo dinâmico e anti-determinista, cuja finalidade é
antecipar potencialmente o futuro, estabelecendo um condicional para
a ação.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Informação. Fenomenologia.
|
Pragmatismo
e a História da Filosofia: Um Estudo de Peirce e Platão
O'HARA,
David Lloyd
Faculdade Augustana, Rock Island, Illinois - EUA
david.ohara@augie.edu
Resumo:
Quão importante é um estudo da história da
filosofia para o Pragmatismo? Neste trabalho discutirei a importância
da história da filosofia para Peirce ao examinar sua volta
a Platão nos últimos anos. Em 1894 Peirce escreveu que
ele tinha lido só um pouco de Platão, e somente em uma
tradução para o inglês; mas no final da década
de 1890, os manuscritos de Peirce contêm mais de mil páginas
sobre Platão. Entre estes incluem-se numerosos comentários
sobre os diálogos de Platão e traduções
parciais de vários diálogos. Naqueles poucos anos, Peirce
descobriu que um re-exame dos diálogos de Platão ajudou-o
a articular a relevância da grande comunidade histórica
da inquirição e a re-pensar seu próprio sistema
metafísico. Neste trabalho analisarei duas importantes conseqüências
do estudo que Peirce fez de Platão: primeiro, Platão
foi instrumental na resposta de Peirce ao argumento de David Hume
contra os milagres. Peirce, lendo Platão através das
lentes da estilometria de Lutoslawski, asseverou que Platão
abandonou a metafísica diádica pela triádica
em seu período final. Esta metafísica tardia de Platão
permite que as leis da natureza cresçam, efetivamente respondendo
ao argumento de Hume contra os milagres como violações
das leis da natureza. Como uma segunda conseqüência do
estudo de Platão por parte de Peirce, argumento que a semiótica
tardia dele é desenvolvida junto com o Crátilo de Platão,
através do exame da compreensão de Platão da
relação dos signos verbais com a physis, ou ser.
Keywords:
Peirce. Platão. História da Filosofia. Crátilo.
Hume. Milagres.
|
A
Lógica dos Relativos e a Semiótica. Sobre Algumas Correspondências
Insuspeitas entre Peirce e o Estruturalismo
PAOLUCCI,
Claudio Paolucci
Universidade de Bologna - Itália
clapaolucci@tin.it
Resumo:
Trata-se de uma palestra que visa ressaltar como a Lógica
dos Relativos de Peirce é, indubitavelmente, o texto fundacional
da epistemologia estruturalista na semiótica e na lingüística.
Mais especificamente, a Lógica dos Relativos constitui uma
sintaxe estrutural actancial, como foi desenvolvida décadas
depois na Lingüística por Lucien Tesnière e na
Narrativa Semiótica por A. J. Greimas.
A passagem de uma lógica predicativa fundada na distinção
sujeito-predicado para uma lógica posicional fundada na valência
verbal abre caminho para uma nova concepção da identidade
dos termos relativos e constitui a fundação de uma verdadeira
revolução também na concepção semiótica
de Peirce, se comparada à sua fundação nos ensaios
anti-catesianos de 1868.
L'intervento vuole mettere in luce come la Logica dei Relativi di
Peirce costituisca in assoluto il testo di fondazione di un'epistemologia
strutturalista in semiotica e in linguistica, e più in particolare
costituisca una sintassi attanziale strutturale, così com'è
stata sviluppata decine di anni dopo in linguistica da Lucien Tesnière
e in semiotica narrativa da A. J. Greimas.
Il passaggio da una logica predicativa fondata sulla distinzione soggetto-predicato
ad una logica posizionale fondata sulla valenza verbale apre così
ad una nuova concezione dell'identità dei termini relativi
e costituisce il fondamento di un'autentica rivoluzione anche all'interno
della concezione della semiotica peirciana, se comparata alla sua
fondazione nei saggi anti-cartesiani del 1968.
|
A
Natureza do Pragmatismo e a Busca por um Pragmatismo Hispânico
PAPPAS,
Gregory Fernando
Universidade do Texas A & M - EUA
goyo_pappas@sbcglobal.net
Resumo:
Há um Pragmatismo Hispânico? Para responder a esta
questão, parto da questão do que o Pragmatismo é.
O Pragmatismo foi revolucionário porque criticou o ponto de
partida do modernismo e, ao contrário, tomou a "experiência"
como ponto de partida apropriado para qualquer investigação
filosófica. Defendo esta visão Pragmática ao
contrastá-la com outras visões comuns sobre pragmatismo
e ao usar os argumentos do filósofo sul-americano Risieri Frondizi
concernentes à razão pela qual a experiência deveria
ser o ponto de partida da filosofia. Se estou certo sobre o Pragmatismo,
então Frondizi merece ser considerado um Pragmatista Hispânico.
|
Antecipação
e Abdução
PESSOA,
Kátia Batista Camelo e GIRARDI, Gustavo Melazi
Universidade Estadual Paulista- UNESP - Marília
navevida@yahoo.com.br
gustavogirardi@marília.unesp.br
Resumo:
O objetivo deste trabalho é analisar o conceito de antecipação,
que na concepção de De Tienne (2005), é um processo
pelo qual a representação de um estado futuro orienta
um evento semiótico presente, e a sua relação
com o raciocínio abdutivo. Nesse sentido, a antecipação
envolve uma dimensão teleológica, na medida em que incorpora
signos com os desdobramentos de seus novos interpretantes. No processo
de semiose, isto é, nos desdobramentos dos signos, estes carregam
com eles o futuro, pois estão impregnados de intenções,
desejos, necessidades e ideais. Ressaltamos que na semiose a informação
é inerentemente processual, pois os signos se constituem numa
dinâmica, e por meio dessa dinâmica, ao serem instanciados,
adotam uma forma condicional, que tem a característica de enunciar
vagamente o que poderá acontecer no futuro. Ao antecipar uma
interpretação, a semiose se desloca em duas direções
no tempo: no presente, ela envolve algo do passado que, ao sinalizar
por meio de intenções, remete ao futuro; e do futuro
para o presente, ao orientar os eventos presentes pela representação
do futuro. Há uma co-relação entre essas duas
direções temporais na medida em que podemos prever,
pelo processo semiótico, os acontecimentos futuros, sendo esta
previsão uma orientação para os eventos no presente.
Argumentaremos em defesa da existência de uma relação
frutífera entre esse processo de antecipação
e o raciocínio abdutivo, relação esta que - ao
reunir informação na forma de um conjunto ordenado de
proposições de um continuum semiótico - possibilita
a formulação de novas hipóteses.
Palavras
chave: Abdução. Antecipação.
|
Verdade
X Método: uma Análise Pontual da Constituição
da Concepção Racionalista da Teoria do Conhecimento
(Um Contraponto entre os Modelos Teóricos apresentados por
René Descartes e Charles S. Peirce)
PESSÔA,
Fabiano de Melo.
Faculdade Integrada do Recife - FIR - Brasil
fabianompessoa@hotmail.com
Resumo:
Esta comunicação procura analisar, criticamente,
a constituição da concepção racionalista
da teoria do conhecimento através de um contraponto entre o
modelo racionalista de René Descartes e a perspectiva pragmática
de Charles S. Peirce. Partindo do modelo apresentado por Descartes
- que através do seu Método, redireciona todo o caminhar
do conhecimento humano, ao colocar o indivíduo como sujeito
ativo na tarefa do conhecer - procuramos pontuar aquilo que nos parece
obscuro em sua teoria. Para tanto, fazemos uso do modelo apresentado
por Charles Peirce, o qual, atuando de forma intensamente inovadora
na tarefa de construção de um modelo racional do processo
cognitivo, apresenta uma contribuição de vulto para
que se vença um dos grandes desafios postos à teoria
do conhecimento que é poder abarcar o máximo de aspectos
possíveis de tudo aquilo que nós é dado conhecer.
Buscando superar o modelo cartesiano naquilo que este tinha de obscuro,
Charles Peirce formula sua teoria sobre a fixação da
crença, com os pés fincados na "realidade",
em uma perspectiva eminentemente empirista, ao qual denomina de método
científico de obtenção da crença. A proposta
Peirciana se fundamenta na independência entre pensamento e
realidade. Para ele, apesar de possuir o homem o atributo racional,
tal característica não pode, por si só, funcionar
como parâmetro para a apreensão do real, devendo os elementos
da realidade ser introduzidos no processo de concepção
da verdade. Contrapõe Peirce a investigação científica
ao método intuitivo-racional cartesiano, ao qual denomina de
método "a priori" de obtenção de crença.
Após analisar os principais pontos dos modelos apresentados
por Peirce e Descartes, observamos que, apesar de incluir no processo
de captação do conhecimento elementos da estrutura do
"real", ainda concebe Peirce a verdade como resultado de
um método ("fatalismo metódico"), e procuramos
perquirir se isto acarretaria, em Peirce, a exclusão da possibilidade
de que venham a existir opiniões divergentes, ambas verdadeiras,
sobre um mesmo objeto.
Palavras-chave:Teoria
do Conhecimento. Racionalismo. Pragmatismo. Descartes. Peirce.
|
A
Abdução como Inferência Fundamental na Produção
de Conhecimento
PETRY,
Luís Carlos e PETRY, Arlete dos Santos
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/
PUCSP - São Paulo/Brasil
petry@pucsp.br
rletepetry@gmail.com
Resumo:
Este trabalho parte de um dos aspectos da crítica peirceana
ao cartesianismo. Aborda especialmente a revisão crítica
do conceito de intuição, situando-o dentro dos estudos
dos métodos das ciências, uma das questões centrais
da obra de Peirce. Como resultado da crítica ao espírito
do cartesianismo, continua na linha de uma reflexão acerca
do conceito de abdução, o qual é proposto por
Peirce como primeiro passo de seu método de investigação.
Situa a importância da abdução no processo de
pesquisa e estabelece algumas possibilidades de aproximações
com outros pensadores (especialmente os filósofos da fenomenologia
hermenêutica e os psicanalistas de base lacaniana).
O processo de investigação desenvolvido no presente
texto organiza-se a partir de uma metodologia de trabalho que busca
o diálogo cooperativo entre as fenomenologias de Peirce e Heidegger,
identificando principalmente aspectos e momentos nos quais o segundo
foi profundamente influenciado pelo pensamento do primeiro na sua
proposta de uma filosofia do mundo prático, a partir de Ser
e Tempo. De modo retroativo, os desenvolvimentos posteriores da fenomenologia
hermenêutica alemã, nos auxiliaram a compreender de um
modo mais profundo e cuidado as propostas do filósofo do pragmatismo.
Ao trabalharmos esta perspectiva estamos realizando um primeiro passo
metodológico de nossas investigações, as quais
tem por finalidade manter viva a proposta peirceana de um método
de pesquisa que postule o não abandono do poder da criação
no centro do pensar e produzir. Pelo contrário, com o conceito
de abdução, arte e ciência se encontram em prol
da produção do conhecimento científico, da poesia,
bem como representada nas perspectivas artísticas das novas
tecnologias.
Desse modo, partindo do fato de que o método de pesquisa peirceano
toma como base um conceito inaugural na história da filosofia,
qual seja, o conceito do pensamento como signo e de que o signo, na
concepção de Peirce, é a materialização
do pensamento, encontramos pontos de convergência com outras
abordagens mais recentes, as quais apresentam-se fecundas, a fim de
uma comparação relacional, na qual o conceito de método
e a reflexão centrada em questões é o ponto central.
Nesta investigação, trabalhamos no sentido de uma aproximação
que busca valorizar na história do pensamento ocidental o diálogo
argumentativo, tendo como ponto central questões que nos determinam,
como no presente, o conceito central de abdução como
resposta ao problema da intuição.
Palavras-chave:
Abdução. Intuição. Semiótica.
Método. Teoria do Conhecimento. Fenomenologia.
|
On
the Place of Logic in Pragmatism
PIETARINEN,
Ahti-Veikko
Universidade de Helsínquia - Finlândia
ahti-veikko.pietarinen@helsinki.fi
Resumo: Do ponto de vista da lógica contemporânea,
ataques iniciais á lógica formal por alguns filósofos
pragmatistas como F. S. C. Schiller são pouco mais do que aspirações
arcaicas em relação à prioridade que a linguagem
comum deveria ter na filosofia. Por outro lado, embora concorde com
Schiller que a filosofia, desde que ela analise "idéias
vagas da vida comum" deveria, de fato, usar "um corpo de
palavras com significado vago" (MS 280, 1905), Charles Peirce
pensou que a filosofia deveria, não obstante, vestir-se com
vocabulário próprio. Peirce concebeu a abundância
de novas noções de lógicas não para ter
uma caixa de ferramentas à mão para uma variedade de
propósitos técnicos, mas para ter os meios através
dos quais os significados das expressões com vagos significados
pudessem ser tornados precisos. A lógica, assim, não
se preocupa primariamente com questões de análise o
uso da linguagem, mas com a natureza das idéias. Ela tem que
ter precedência sobre a metafísica a fim de que a especulação
corra solta na esfera ilimitada do pensamento filosófico. Enquanto
William James apreciava os argumentos de Peirce contra Schiller até
certo ponto, argüirei que a negligência das raízes
lógicas do pragmatismo (pragmaticismo) nos debates contemporâneos
pode ser visa como instâncias do sintoma de ver a linguagem
como um meio de expressão universal.
|
Uma
"Cebola sem Casca": Transparência e Concretização
à Luz da Semiótica de Peirce
REDONDO,
Ignacio
Universidade de Navarra (Departamento de Comunicação)
- Espanha
nredondo82@gmail.com
Resumo: É sabido hoje em dia que o triadismo de Peirce
tenta escapar das armadilhas tanto do idealismo quanto do materialismo.
Especialmente, a doutrina do sinequismo, com sua busca de continuidades
em cada esfera da experiência, é tida como a pedra de
toque filosófica que permite este triunfo sobre os dualismos
de toda a espécie. Não obstante, há inúmeras
passagens em Peirce que parecem se contrapor a uma interpretação
límpida deste assunto. Em particular, a idéia de que
o signo é um meio que fornece formas ou características
de um objeto parece ser um concessão não-pragmática
a um certo tipo de platonismo, no qual idéias puras têm
que ser derramadas de seu "vaso" (CP 3.597). Realmente,
como vários estudiosos já mostraram, a definição
comunicativa de signo tem que lidar com uma tensão problemática
entre um ideal de transparência e a necessidade de concretização.
Neste trabalho, alguns destes problemas e dificuldades serão
levados em conta do ponto de vista da filosofia da representação
sinequista de Peirce. Através de um desenvolvimento cuidadoso
da reivindicação básica de que "todo o pensamento
é em signos", será mostrado que, ao passo que não
é possível reduzir o signo a qualquer de suas instâncias
particulares, ele exige algum tipo de concretização
para completar sua função semiótica. Ademais,
uma análise dos três tipos de mediação
ocorrendo em cada relação genuinamente triádica
mostrará que não é correto ter explicações
causais ou idealistas na semiose. Ao contrário, será
aqui defendido que o fluxo de mediação difusa e contínua
permite que Peirce supere o materialismo e o idealismo em uma forma
sofisticada de realismo semiótico que efetivamente articule
pensamento e expressão sem diminuir o papel desempenhado por
qualquer de seus componentes. Levando em consideração
algumas conseqüências que podem ser tiradas deste cenário,
este trabalho conclui com algumas sugestões para uma filosofia
da comunicação mais robusta, na qual não haja
lugar para o contato imaterial ou a fusão etérea de
mentes descarnadas.
Palavras-chave:
Transparência Semiótica. Concretização.
Sinequismo. Realismo. Mediação.
|
Uma
Resposta Pragmaticista à Questão da Exclusão
Causal na Filosofia da Mente
RIBEIRO,
Henrique de Morais
UNESP- Faculdade de Filosofia e Ciências - Marília, Brasil.
hdemoraisribeiro@yahoo.co.uk
Resumo:
A filosofia da mente contenporânea, no que se refere à
área do realismo mental, enfrenta a problemática da
exclusão causal da mente. Segundo, alguns argumentos clássicos,
a mente parece estar excluída causalmente do universo físico.
Esta questão da exclusão causal da mente deve-se a alguns
pressupostos que são tacitamente assumidos pelos fisicistas
que investigam a questão da exclusão causal. Um pressuposto
é o fechamento causal da mente segundo o qual a cadeia causal
do universo deve ser necessariamente fechada, isto é, para
toda e qualquer causa física existe um efeito físico;
o outro é o pressuposto de não -sobredeterminação
causal da mente, isto é, a idéia de que dever haver
uma e uma só causa para um determinado efeito. Neste trabalho,
procura-se mostrar que a noção peirceana de causalidade
evita o problema da exclusão causal bem como seus pressupostos,
por Peirce assumir uma noção de causalidade final que
insere a mente no universo físico.
Palavras-chave:
Realismo mental. Exclusão causal. Fisicismo. Causa final.
|
Contribuições
do Pragmatismo para o Estudo do Conceito de Cognição
na Epistemologia Contemporânea
RODRIGUES,
Luciane
Universidade Estadual Paulista - UNESP/Marília - Brasil
lucirodrigues@marilia.unesp.br
Resumo:
O objetivo do presente trabalho é indicar possíveis
contribuições do Pragmatismo de Charles S. Peirce para
a compreensão do conceito de cognição, no contexto
atual da epistemologia contemporânea. Argumentaremos que o Realismo
Evolucionário do pensamento peirceano, que diz respeito às
suas hipóteses sobre a natureza do processo de formação
de hábitos, da ação significativa e da construção
diagramática, contribui significativamente para a compreensão
do processo de aquisição e expansão do conhecimento,
cujo estudo é objeto do programa de pesquisa da Filosofia Ecológica.
Especial ênfase será dada à relevância do
método falibilista peirceano para a elucidação
do processo gerador de hipóteses. Nesse contexto, analisaremos
o pressuposto epistemológico da Filosofia Ecológica,
segundo o qual a cognição está diretamente atrelada
à percepção e à ação do
sujeito cognitivo em seu processo de interação evolutiva
com o ambiente. Para os fins deste trabalho, focalizaremos a hipótese
peirceana sobre o princípio gerador de hábitos constitutivos
da ação significativa. Entendemos que a ação
significativa só é possível porque existe uma
continuidade entre as histórias evolutiva e cultural, formadoras
de hábitos de ação do sujeito cognitivo, que
estão intrincadas na forma deste conhecer o mundo. No sentido
peirceano, a continuidade é, grosso modo, a possibilidade de
significado contido objetivamente no mundo, i.e. "condições
objetivas que funcionam como regras que determinam conseqüências"
(Hausman 1993, p. 73). Procuraremos mostrar que a atribuição
de significado é, assim, resultante da interação
entre sujeito histórico e mundo, exatamente porque essa interação
está impregnada de fatores objetivos (objetos imediatos) que
restringem o domínio de interpretação e ação
do sujeito no mundo. Finalmente, discutiremos duas implicações
que julgamos decorrerem da abordagem proposta: (i) a realidade histórica
contribui para o caráter de objetividade da cognição
/ percepção, contudo, (ii) não se trata de qualquer
história, mas a do sujeito inserido numa relação
específica, propiciada por seu universo semiótico.
Palavras-chave:
Realismo evolucionário. Pragmatismo. Objeto imediato. Sujeito
histórico. Ação significativa.
|
Peirce
e Schopenhauer: Relação entre Primeiridade e Idéia
RODRIGUES
JUNIOR, Ruy de Carvalho; SANTOS, Adriana M. Gurgel
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- PUC/SP - Brasil
ruydec@uol.com.br
seres003@gmail.com
Resumo:
O objetivo deste trabalho é estabelecer um estudo acerca
de alguns pontos de convergência e divergência entre a
tentativa de fundamentação de uma metafísica
da natureza e metafísica dos costumes, em Arthur Schopenhauer,
e a concepção fenomenológico-categorial de primeiridade
[firstness] em C.S. Peirce. Parte-se da fundamental reformulação
da teoria da representação de Schopenhauer (já
pretensamente visível em 1829, em alguns fragmentos não
publicados), e sobretudo em sua importante obra de 1836 (Sobre a vontade
na natureza), em que o autor pretenderá encontrar uma possível
confirmação de suas teses metafísicas nas ciências
de seu tempo, assim como na segunda edição de O mundo
como vontade e como representação (1844), e dos seus
Complementos (1851). Defende-se que no núcleo do deslocamento
de sentido de sua teoria da representação está
o problemático conceito de matéria (Materie e Stoff),
e o difícil conceito de substância, conceitos que levarão
o filósofo de Frankfurt a apresentar pelo menos três
grandes tentativas (relação entre a quarta classe do
princípio de razão suficiente - princípio de
razão de agir, lei de motivação -, e a primeira
classe - princípio de razão de devir, causalidade; argumentação
analógica; e a negação/supressão da vontade
de viver empreendida pelo herói da vontade - o asceta/santo)
de legitimação das pretensões de validade de
sua metafísica da natureza e de sua metafísica dos costumes.
Partindo, então, destas tentativas de fundamentação
levadas a cabo por Schopenhauer ao longo de sua vasta obra, pretende-se
discutir a possibilidade de se estabelecer uma aproximação
entre a categoria fenomenológica de Primeiridade de Peirce,
e os conceitos de Idéia (tomados aqui em seu sentido ontológico,
isto é, como forças inorgânicas e figuras orgânicas,
e em seu sentido metafísico/moral, ou seja, como caráter),
que perpassam o segundo e o quarto livros da obra magna do filósofo
de Frankfurt, O mundo como vontade e como representação.
As razões a serem apresentadas como relevantes para tornar
possível tal aproximação residem na tensa relação
entre o idealismo subjetivo e transcendental schopenhaueriano, com
o realismo aristotélico-suareziano por um lado, e a original
articulação peirciana entre realismo de matiz aristotélico-scotista
e o idealismo identitário-objetivo de filiação
neoplatônico-schellinguiano, por outro.
Palavras-chave:
Peirce. Schopenhauer. Fenomenologia. Metafísica.
|
A
Prudência Aristotélica e sua Aplicação
na Medicina
ROMANELLO,
Geraldo
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- PUC/SP
gromanello@terra.com.br
Resumo:
A interpretação aristotélica das virtudes
está dentro da tradição clássica, até
hoje não desprezada, o que revela um real valor e decididamente
sua participação na tradição clássica
como prática do pensamento moral. Seu domínio se confirma
há mais de dois mil e trezentos anos, mantendo a tradição
racional, em uma visão realista, sem pessimismo, aberta ao
mundo social e científico.
Os seres humanos possuem uma natureza específica caracterizada
pelo seu pendor ao bem. Este é o pressuposto de Aristóteles:
a natureza humana mantém-se a mesma no tempo e o espaço,
apesar de haver modificações sociais, culturais, religiosas,
econômicas, tecnológicas e científicas.
O bem particular é o bem dos homens, sintetizado na atividade
virtuosa; é a eudaimonia, traduzido por felicidade, bem-aventurança,
ou ainda, prosperidade. A felicidade é uma das questões
abertas em Aristóteles. Quanto ao bem do homem, pode ser definido
como um estar bem e fazer o bem.
O exercício das virtudes aparece como a parte central da vida.
O sistema ético de Aristóteles tem seu sentido neste
exercício das virtudes, o qual traz com resultado imediato
à eleição de uma boa ação.
Na pessoa naturalmente boa o hábito também deve ser
desenvolvido. Este detalhe na ética aristotélica revela
a necessidade da educação moral para todos os homens,
bem como a preponderância do racional sobre o sentimental. O
papel da razão é de justamente conter os apetites, orientando-os
de modo correto, indicando uma decisão racional, inibindo ou
até mesmo vencendo os desejos distintos do bem.
Os meios para atingir um fim pedem juízo. Para isto, entram
em ação as virtudes, como capacidade de julgar, opinar
(porque, no particular, há a opinião correta como o
verdadeiro), atingindo a ação correta, o fazer correto,
no lugar correto, no momento correto e da forma correta. Esta faculdade
opinante ou deliberativa não pode ser confundida como uma aplicação
rotineira de normas. Aristóteles não formula normas
de agir, ou imperativos. A noção de dever fica de modo
implícito na sua ética, embora o termo dever lá
conste.
Novamente aparece a relação entre a sabedoria prática
e as virtudes morais: os juízos obtidos através de um
raciocínio prático, incluem julgamentos sobre o que
é bom, correto de fazer. Em suma, uma pessoa, ao agir, guia-se
por tais juízos, os quais dependem das virtudes ou dos vícios,
quer intelectual ou morais. Como resultado, a ação mesma
revela o caráter da pessoa.
A phronesis aplicada na Medicina visa diminuir as incertezas a um
mínimo para que o médico possa tomar uma decisão
prudente. A deliberação médica estaria baseada
na clínica e na ética.
Palavras-chave:
Aristóteles. Medicina. Ética.
|
Complexidade
Estética em Arte Registrada em uma Proforma Triádica:
Contribuições para a Prova do Pragmatismo
RYAN,
Paul Jonathan
Universidade das Artes de Londres, Reino Unido
p.ryan3@wimbledon.arts.ac.uk
Resumo:
Para Peirce, a estética era uma ciência normativa
considerando 'aquelas coisas cujos fins devem incorporar qualidades
de sentimento', que se transforma gradativamente em juízos
perceptivos. Como Hookway já salientou (Cognitio. Vol 6.1,
p. 40), uma característica em qualquer prova do Pragmatismo
seria que a experiência estética é tida como complexa,
ou rica em significado (mais do que aleatória ou simples, o
que pareceria tender na direção do apoio ao nominalismo
ou idealismo, respectivamente). A aplicação da máxima
Pragmática poderia, então, esclarecer a complexidade
de um modo interdependente ao invés de modo circular. Vale
a pena notar que Peirce reivindicou que ele era 'um verdadeiro ignorante
em estética' (EP 2. p. 189).
Usando um esboço de um artista como o objeto de análise,
este trabalho mapeará algumas das complexidades estéticas
que a teoria semiótica de Peirce já esclareceu. Ficará
claro que mesmo com um desenho relativamente simples, 'significados'
relacionados a muitos objetos são contidos em um objeto-de-arte
(por exemplo, a representação, o material, o artista,
o gênero, o estilo, as cores e assim sucessivamente). Listarei
25 objetos para começar. De modo análogo, 'Eu' com intérprete
contribuo com múltiplos 'interpretantes' e, novamente, porei
fim à minha lista de (por exemplo, Artista, Adulto, Criança,
Inglês, Semioticista…).
Embora o objeto escolhido seja uma 'obra-de-arte', eu não estou
usando a palavra estética para significar 'a filosofia das
belas artes'. Entretanto, uma estética da forma-de-arte pode
ser apreciada dentro daquela parte da natureza pertinente ao ser humano
e apenas dirigida ao sentido visual. Uma pergunta a ser considerada
é se isto fornece maior ou menos complexidade à estética
de uma 'obra de arte' do que a um objeto feito por um não-humano,
por exemplo, uma concha ou uma árvore.
Construindo sobre um monograma semiótico, estou desenvolvendo
uma 'proforma triádica' para registrar percepções
que apresentarei como um trabalho-em-progresso. (Percepções
sendo sensações estéticas que já foram
julgadas, ou para as quais aceitação já foi dada
ou retida, e são, portanto, proposicionais).
Um volume com três lados, um tronco, será mostrado como
modelo para visualização do tamanho/tomada de consciência
de qualquer investigação quanto à estética
de um objeto. Embora o volume de um sólido represente um continuum
de significado, o volume pode representar os limites desse continuum
em qualquer inquirição. O tronco pode ser exprimido
até ser uma linha para qualquer verdade final hipotética
para uma comunidade de inquiridores.
Para o Pragmatismo ter sua prova, a complexidade da estética
deve estar tão além da demonstração (indemonstrável)
que nós devemos ter confiança o suficiente para supor
que ela seja o caso como a forma do argumento: 'Se A então
B; mas A: portanto B.' Tal confiança só pode ser encontrada
se todas as inquirições estéticas revelarem complexidade
após escrutínio. A história das discórdias
sobre estética parecem já ter confirmado isto, mas isso
não é o que essa história deseja fazer. Este
trabalho almeja apontar como Peirce começa por fornecer a metodologia
para analisar a experiência estética (revertendo generalizações),
embora ele tivesse deixado esse trabalho por fazer.
Palavras-chave:
Peirce. Estética. Percepção. Prova do Pragmatismo.
Desenho. Arte.
|
Cinema
e Pragmatismo: uma Reflexão sobre a Gênese Sígnica
na Arte Cinematográfica
SANTOS,
Marcelo Moreira
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- PUC-SP
marcelo_m.s@terra.com.br
Resumo:
Este artigo visa discutir a importância e a urgência
da filosofia de Charles Sanders Peirce na compreensão da gênese
criativa do cinema. Trata-se de uma reflexão sobre a ontologia
e uma possível epistemologia cinematográfica através
da semiótica peirciana. Tem-se, como metodologia, a discussão
sobre a Fenomenologia da metrópole como um pivô para
o desenvolvimento de uma linguagem e de uma estética, especificamente
nesse caso, a do cinema, observando o caráter híbrido
dessa comunicação e o comportamento dos cineastas em
relação a tal estética, enfatizando a importância
do pragmatismo na realização e concretização
de um filme através de um pensamento triádico, indo
desde a idealidade imaginária, testando possibilidades de uma
possível externalização e, por fim, no conseqüente
desenvolvimento de um filme. Esta tríade tem como base conceitual
as Categorias peircianas de Primeiridade, Segundidade e Terceiridade,
e encontra correspondência com a Poética de Aristóteles
permitindo uma reflexão entre Peirce e este grande filósofo
grego.
Palavras-chave:
Semiótica. Pragmatismo. Cinema. Ontologia. Epistemologia.
Fenomenologia.
|
Fundamentação
Última Não-Transcendental?
SILVA,
Josué Cândido da
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC - Brasil
josuecandido@uol.com.br
Resumo:
O título de nossa comunicação é uma
referência à proposta de Kart-Otto Apel de uma fundamentação
não-metafísica da filosofia a partir do conceito de
comunidade ideal de comunicação. Em sua fundamentação,
Apel parte das condições irretrocedíveis (nichthitergehbaren)
da situação de fala, cuja negação levaria
inevitavelmente a autocontradição performativa. Ou seja,
mesmo um cético precisa argumentar sobre as razões pelas
quais recusa o argumento do oponente. Ao argumentar, entretanto, já
estaria o cético em uma situação de fala e, portanto,
aceitando as regras que regem o discurso argumentativo. A única
alternativa a essa situação que restaria ao cético,
seria permanecer em silêncio, mas, nesse caso, não poderia
dar a conhecer seu ponto de vista e tampouco se caracterizaria como
cético. A partir das regras que regem o discurso cotidiano,
Apel deriva o conceito de comunidade ideal de comunicação
pressuposta como condição a priori de toda situação
real de comunicação. Tal conceito lhe permitiria o estabelecimento
das condições transcendentais de fundamentação
da filosofia capazes de superar o relativismo pós-moderno que
postula a impossibilidade de qualquer fundamentação
da filosofia. Por outro lado, a passagem da irrecusabilidade da situação
de argumentação de uma comunidade real de fala ao conceito
de uma comunidade ideal de comunicação, como pressuposto
transcendental de todo falante, parece não estar suficientemente
justificada. Já em Aristóteles, a prova indireta (ou
argumento elênctico) pressupõe apenas uma situação
real de fala em que pelo menos um falante que queira refutar o argumento.
Para Apel, o pressuposto de uma situação real de fala
não é satisfatório para seu projeto de fundamentação
da filosofia, daí o recurso a uma comunidade ideal ao interior
da comunidade real de comunicação. Tal recurso, porém,
traz consigo uma série de dificuldades decorrentes da relação
entre comunidade ideal e real de comunicação. Considerar
o caminho abandonado por Apel de uma fundamentação não-transcendental
e pragmática da filosofia é o tema da presente comunicação.
Palavras-chave:
Fundamentação. Pragmática transcendental.
Karl-Otto Apel.
|
Será
que nossos Melhores Métodos para a Fixação da
Crença Levam a uma Opinião Única sobre a Verdade?
SMITH,
Barry
Universidade de Londres - Reino Unido
b.smith@bbk.ac.uk
Resumo:
Em 'A Fixação da Crença', Peirce observa que
opiniões estabelecidas pelos métodos da tenacidade e
autoridade podem ser rompidas ao se observar que as outras pessoas
ou outras sociedades podem ter opiniões diferentes sobre a
verdade ou a falsidade de uma dada proposição. Entretanto,
ele sugere, por contraste, que nossos melhores métodos de inquirição
estão propensos a levar a uma opinião única e
concorde sobre a verdade de qualquer hipótese adequadamente
formulada. Suas razões são que cada proposição
é ou verdadeira ou falsa, e que os métodos de raciocínio
e investigação usados para estabelecer a verdade (ou
a opinião) sobre estas questões assegurará concordância
geral. Entretanto, a possibilidade permanece que grupos diferentes
de uma disputa possam tanto aderir a princípios comuns de raciocínio,
ambos conformes a padrões de sua lógica escolhida e,
ainda assim, chegar a opiniões divergentes sobre um assunto
particular. Pode ser o caso que cada grupo na disputa seja epistemicamente
impecável em seu raciocínio embora cheguem a opiniões
diferentes, e que, de algum modo, os dois estejam certos. Neste trabalho
exploro a coerência da visão relativista de que a mesma
proposição possa ser verdadeira para um grupo de pensadores
e falsa para outro, e examine se há algo no sistema de Peirce
para proscrever tal possibilidade.
|
Elementos
de Peirce no Debate de Habermas e Apel
ZANETTE,
José Luiz
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
- PUCSP
Zanetti@gvo.com.br ou zanetti@keynet.com.br
Resumo:
Habermas e Apel, com a influência do pragmatismo americano,
desenvolveram a Ética do Discurso. Porém Apel e Habermas
divergiram de forma aguda sobre a possibilidade de uma fundamentação
última para essa ética.
Para Apel, em Peirce, há um projeto de fundação
de validade das "inferências sintéticas" (abdução
e a indução), as quais se realizam como um modo de lógica
transcendental e são, simultaneamente, uma lógica de
interpretação dos signos. A essa semiótica transcendental
combina-se uma teoria normativa de procedimentos para os possíveis
critérios na criação de uma teoria consensual
da verdade. Com tal base, para Apel, a linguagem é a condição
transcendente de todo sentido e validade, já que é implicitamente
pragmática na vinculação da fala ao seu próprio
sucesso, com a necessidade de consenso sobre o entendimento dos sinais,
com a subseqüente interpretação sobre os algos
do mundo, com o entendimento ou desentendimento sobre eles. O pensamento
argumentativo é igual a uma pretensão de validade que
tem que evitar a autocontradição performativa. É
uma lógica "a priori" aplicável à comunidade
de comunicação e que funda uma normatividade ética.
Habermas vê o apriorismo de Apel como uma espécie de
retorno à filosofia do sujeito. Diferentemente de Apel, para
Habermas, a abordagem pragmática de Peirce é uma promessa
de reconciliação entre Kant e Darwin, com um transcendental
e um evolucionismo compatíveis com seus estudos da natureza
de Schelling e a recepção da práxis marxista.
Habermas afasta a possibilidade de argumentos isentos de teste empírico
e, mesmo em uma pragmática universal na qual o justo se caracteriza
pelo critério imparcial de constituição de sua
normatividade, não há como garantir que uma norma moral
não possa ser alterada futuramente, já que requereria
garantir, para esse futuro, as mesmas condições de mundo
da vida do momento de sua constituição. É um
falibilismo anticético com um construtivismo moral, calcado
em um processo contínuo de aprendizagem, que contempla o acaso
e o evolucionismo.
Habermas refuta a lógica "a priori" da comunidade
de comunicação, com a crença de que a aceitabilidade
racional se faz possível "a posteriori", no uso de
um poder transcendental da estrutura lingüística fundado
em formas de comunicação pelas quais nos entendemos
sobre os acontecimentos no mundo e sobre nós mesmos. Tal ocorre
porque a língua não é uma propriedade privada,
e ninguém dispõe, exclusivamente, de um meio comum de
compreensão, o que requer compartilhamento intersubjetivo.
Mesmo que falibilista, no "logos" da língua, personifica-se
o poder do intersubjetivo, que é anterior à subjetividade
dos falantes e sustenta-o.
No evolucionismo, sem pretender negar a evolução das
espécies, Habermas não aceita uma teoria prévia
que, a cada experiência, leve a uma necessária compatibilização
com a mesma. Afastada a justificabilidade ideal e, com os conceitos
da verdade como aceitabilidade racional, do falibilismo anticético
com um continuum de aprendizagem e com argumentos validados pela imparcialidade
da condição de sua constituição, o "a
posteriori" de Habermas o afasta de Apel, mas aproxima-o mais
de Peirce.
Palavras-chave:
Pragmatismo. Lógica Transcendental. Apel. Habermas. Peirce.
|
|
|
|
|