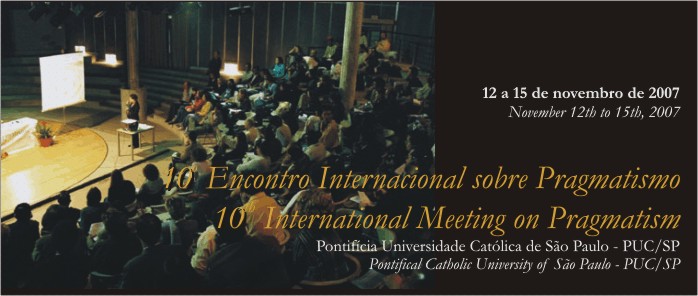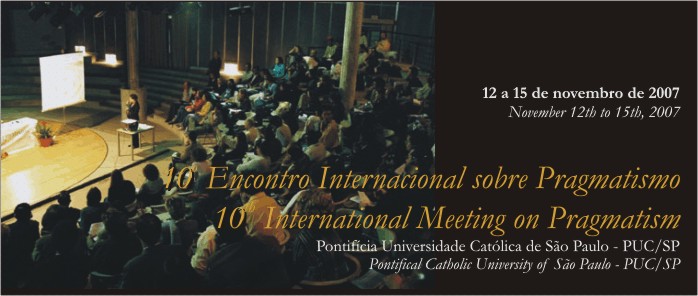|
|

CONFERÊNCIAS PRINCIPAIS
RESUMOS
E ABSTRACTS
|
Individualidade e Sociabilidade na Ciência:
O "Realismo Social" de G.H. Mead
Rosa
CALCATERRA - University of Roma 3 - Italy
calcater@phil.uniroma3.it
Resumo:
Os pragmatistas clássicos compartilhavam da confiança
nas possibilidades emancipadoras dos métodos e resultados científicos,
embora de modo diferente. Um de seus propósitos mais importantes
era mostrar que a atividade científica sugere a superação
de uma série de dicotomias - sujeito/objeto, mente/natureza,
teoria/prática - que perspassam as tradicionais filosofias
tanto idealistas quanto empiristas. A utilização do
conhecimento biológico e da psicologia experimental por parte
de G.H. Mead, no decurso de sua pesquisa filosófica, representa
uma tentativa de alcançar este propósito por meio de
uma explicação da consciência humana como sendo
um fenômeno específico da vida biológica e, ao
mesmo tempo, através do desenvolvimento de uma psicologia social,
concebida como uma análise empírica do relacionamento
entre as estruturas da vida social e a dinâmica da subjetividade.
Minha intenção é esboçar os principais
argumentos que Mead oferece na sustentação de um realismo
epistemológico centrado na idéia de uma natureza social
das atividades cognitivas. A formulação de um conceito
de experiência individual em termos de um aspecto funcional,
orgânico do desenvolvimento das ciências, e a perspective
destes últimos como um processo "construtivo" de
significados objetivos socialmente válidos serão considerados
como os parâmetros de uma perspectiva filosófica que
visa à neutralização do risco do ceticismo implícito
na oposição sujeito e mundo físico, que caracteriza
as formas tradicionais de realismo, assim como os resíduos
idealistas de teorias que enfatizam o aspecto lógico da pesquisa
científica. Levando em consideração um grupo
de textos cobrindo toda a obra de Mead, eu focalizarei na congruência
deste projeto com uma teoria da mente e linguagem naturalista através
da qual ele tenta reestruturar um número de noções
filosóficas básicas, tais como de universalidade, significado
simbólico, verdade e objetividade, em vista de uma concepção
de processos de conhecimento definíveis como "realismo
social".
|
Rumo a uma Abordagem Pragmática do Inconsciente
Vincent
COLAPIETRO - The Penn State University – USA
vxc5@psu.edu
Resumo:De
modos diferentes, mas que se sobrepõem, Peirce, James, e Dewey
explicitamente chamaram à atenção para as dimensões
inconscientes da mente humana. Entretanto, não está
claro se (para levantar a distinção crucial de Freud)
eles estavam reconhecendo o inconsciente em um sentido meramente descritivo
ou em um sentido verdadeiramente dinâmico (portanto, estritamente
psicanalítico). Embora haja certa evidência textual de
que James e Dewey não chegaram perto, na ocasião, de
desposar o sentido dinâmico deste conceito controverso, há
uma base muito maior para interpretar Peirce como um pensador comprometido
com este significado do inconsciente. O propósito deste trabalho
é mostrar uma afinidade mais profunda do que a comumente suspeita
entre as descrições psicanalítica e pragmatista
da mente. Enquanto alguma atenção será dada a
James e Dewey, aqui irei concentrar-me no ponto de vista de Peirce.
A mente concebida como um feixe de hábitos (e hábitos
de um caráter distinto) será articulada de tal modo
a trazer sob foco concentrado a mais negligenciada afinidade entre
a psicanálise e o pragmatismo (entretanto, ver Arnold Goldberg
e também meus próprios estudos sobre esta relação).
Embora o assunto sendo explorado neste trabalho se concentre principalmente
na viabilidade de abordagens teóricos sobre a psique humana,
questões relacionadas à eficácia da terapia psicanalítica
não serão ignoradas. De fato, talvez seja o caso de
que uma teoria mais ou menos adequada da psique tenha que ser desemaranhada
das formas questionáveis da prática terapêutica.
Ademais, talvez seja o caso que o parentesco entre psicanálise
e pragmatismo nos ajude bastante a separar o trigo dos insights teóricos
do inconsciente do joio dos modos desacreditados (ou, na melhor dos
casos, incertos) de certas práticas; e ele faz isto ao mostrar
até que ponto o inconsciente, em sentido psicanalítico,
não nos compromete necessariamente com as formas historicamente
sancionadas da terapia psicanalítica. Finalmente, este ato
levanta uma série de questões sobre a relação
entre nossas descrições teóricas e práticas
históricas, terapêuticas e outras. Consignando as mais
centrais dentre estas nos ajudará a mostrar como o pragmatismo
peirceano fornece a perspectiva abrangente na qual as contribuições
mais vitais da tradição psicanalítica podem ser
menos problematicamente incorporadas.
|
Quem
Tem Medo de Charles Sanders Peirce: Introduzindo um pouco de Bom-Senso
Crítico na Filosofia Moral
Cornelis DE WAAL - Indiana Univesity - USA
cdwaal@iupui.edu
Resumo:
Meu propósito nesta palestra é explorar a contribuição
potencial da teoria de Peirce da inquirição científica
para a filosofia moral. Após breve apresentação,
eu começo por delinear a teoria de inquirição
de Peirce. Em seguida, debruço-me sobre a razão pela
qual Peirce acreditava que isto é inaplicável ao que
ele chamava "assuntos de importância vital", entre
os quais se incluem, obviamente, problemas morais genuínos.
Isto nos deixa basicamente com duas opções: podemos
tentar desenvolver um modo alternativo de tratar os problemas morais,
ou podemos buscar reconciliar problemas morais com a inquirição
científica como descrita por Peirce. Defenderei esta última.
|
As Raízes Gregas do Pragmatismo: Um Novo
Nome para um Modo Antigo de Pensar
Rossella
FABBRICHESI - Milan University - Italy
rossella.fabbrichesi@unimi.it
Resumo:
No decorrer dos anos, Peirce desenvolveu sua própria regra
pragmática, ou pragmaticista, enfatizando cada vez mais o tema
da 'resolução para agir'. O significado pragmático
reside nos efeitos que possam concebivelmente ter conseqüências
práticas, em como ele pode levar-nos a agir, e não há
distinção de significado tão tênue que
consista em algo além de uma diferença possível
de prática (Máxima de 1878). A prática não
é simplesmente ação, como qualquer scholar peirceano
sabe, mas é inegável que o pragmatismo tem uma referência
forte em relação à conduta, ao hábito
praxeológico, efetivo, capaz de modificar a rigidez do existente
com a força de seus efeitos. Força, eficácia,
ação, prática são termos circulando com
um impacto transformador profundo na filosofia do século XX.
Com o desenvolvimento de seus estudos, Peirce enfatizou ainda mais
o exercício dinâmico e produtivo, ou mesmo voluntarista
que está imbricado com a construção do significado
lógico: não há verdade que não seja um
efeito da verdade; isso não advém de uma ação
que constitui a verdade; isso não é a aplicação
de algum poder expressivo e semiótico. O que achamos deve ser
entendido em termos do que estamos preparados para fazer, do que escolhemos
fazer deliberadamente (Conferências de Harvard) e a lógica
está intimamente conectada à ética (e estética).
Poderíamos resumir sua teoria deste modo: a verdade reside
na efetividade pragmática que o objeto de nossa concepção
adquire durante um certo processo, graças à disposição
a responder, compartilhado em um nível coletivo e crucial na
produção de sentido (Assuntos do Pragmaticismo). Ou,
como Peirce preferia dizer, com uma simplicidade maior e referindo
à passagem bíblica: 'pelos seus frutos vós os
conhecereis' (Pragmatismo).
Neste trabalho tenciono mostrar que esta noção de verdade
está fundada na idéia de poder operativo (en-ergos,
em grego), capaz e produzir bons resultados, que sempre foi uma das
idéias-chave do conhecimento Ocidental. De fato, nossa civilização
está fundada - desde a era grega - na noção do
poder do efeito, do resultado alcançado, da ação
como engajamento e como a realização de um propósito.
Nesta concepção ativa, dinâmica, e 'heróica'
do fazer (prattein) é essencial a idéia de alcançar
conseqüências práticas relevantes - conseqüências
visíveis (calculáveis, mensuráveis) - as únicas
capazes de mensurar o sucesso da ação. Isto está
intimamente associado à idéia de força, da energia
que está envolvida na realização de ações
e este é um valor inquestionável em nossa civilização,
mesmo que diferentemente modulado, desde a era grega (como Nietzsche
tão bem compreendeu). Basta recordar aos valores propostos
n' A Ilíada, o poema no qual os cantos são dedicados
aos heróis que ganham as lutas e que são reconhecidos
como líderes por isso; de fato, o mundo Ocidental já
propôs o modelo de uma 'cultura da vergonha' desde então,
no qual a única coisa valiosa é o resultado produzido,
o efeito prático no agon. Alguma vez nos afastamos destas posições?
|
A Máxima Pragmática e a Prova
do Pragmatismo: As Estratégias de Peirce por volta de 1903
Christopher
HOOKWAY - University of Sheffield – England
c.j.hookway@sheffield.ac.uk
Resumo:
Na 'Máxima Pragmática e a Prova do Pragmatismo',
(Cognitio, 2005), eu tentei esclarecer a estratégias de Peirce
utilizada nas 'Conferências sobre Pragmatismo' (1903) para argumentar
em prol de (ou 'provar') sua máxima pragmática. Esta
prova visava tanto esclarecer o conteúdo da máxima quanto
demonstrar sua correção. Este trabalho é uma
continuação daquele, e debruça-se sobre a tentativa
de Peirce em argumentar em prol do pragmatismo em escritos após
1903. Como no trabalho anterior, estou mais preocupado em identificar
as estratégias que ele utilizou para defender a doutrina do
que nos detalhes de sua execução destas estratégias.
E um assunto importante concerne o porque ele não se satisfez
com o argumento de 1903 e, aparentemente, buscou um tipo diferente
de abordagem. Terá sido porque achava que o argumento anterior
houvera fracassado em estabelecer sua conclusão? Ou fora porque
achara que a abordagem anterior não fornecera uma 'explicação'
plenamente perspícua do porque a máxima estava correta?
|
A Crescente Atratividade do Pragmatismo Clássico
Nathan
HOUSER - Indiana University – USA – Keynote Speaker
nhouser@iupui.edu
Resumo:
Ao redor do mundo parece estar havendo um interesse crescente
no pensamento dos primeiros pragmatistas: Charles Peirce, William
James, e John Dewey. Isto é tão evidente em São
Paulo quanto em Pamplona ou em Cambridge, Massachusetts. Recentemente,
também tem crescido o interesse em Josiah Royce, que é
às vezes incluído na campo pragmatista, embora às
vezes com ressalvas. O que, na visão destes filósofos
do século XIX e início do XX está atraindo os
filósofos hoje? Talvez seja o fato de que estamos ficando insatisfeitos
com uma visão da filosofia que não busca ajudar-nos
a nos situarmos mais adequada e satisfatoriamente em nosso universo?
Será que a banda larga do pragmatismo é melhor que a
banda estreita da filosofia analítica? A visão do pragmatismo
aqui considerada concernirá mais o ethos destes filósofos
pragmatistas do que suas teorias técnicas. Não obstante,
será sugerido que é a força analítica
do pragmatismo que, por fim, dará, em seu amplo delineamento,
uma vantagem sobre as outras grandes abordagens ancoradas no humano,
tais como o Existencialismo ou o franco Teísmo.
|
O
Significado de Primeiridade em Schelling, Schopenhauer e Peirce
Ivo
Assad Ibri - Centro de Estudos de Pragmatismo - Programa de Estudos
Pós-Graduados em Filosofia da PUC/SP
ibri@uol.com.br
Resumo:Malgrado
o conceito de primeiridade tenha sido concebido por C. S. Peirce (1839-1914),
sua raízes já estavam presentes no passado da história
da filosofia. Particularmente, Schelling e Schopenhauer foram pensadores
que trabalharam este conceito, cada um deles dentro do contexto de
seus próprios problemas filosóficos. Peirce é,
confessadamente, um herdeiro de Schelling - seu conceito de primeiridade,
a par de outras heranças shellinguianas encontráveis
em seu pensamento, é, de algum modo, inspirada no pensador
alemão. Todavia, quando consideramos Schopenhauer, a primeiridade
aparece exclusivamente como uma experiência de contemplação,
a qual é, para Peirce, apenas uma dimensão da experiência
humana interior sob esta categoria. De fato, a concepção
de Peirce vai adiante, estendendo-se e espraiando-se para o mundo
externo, sob a forma geral do Acaso, enquanto Schopenhauer mantém
o determinismo kantiano, concebendo a Natureza sob estrita causalidade
e necessidade. O presente trabalho tenta mostrar, então, as
similaridades e diferenças entre estes autores quanto ao conceito
de primeiridade, o qual, na realidade, tem seu território teórico
comum no velho conceito clássico de liberdade, enfatizando-se,
não obstante, sua extrema importância para os três
sistemas filosóficos.
|
O Pragmatismo e a Perspectiva de uma Reaproximação
com a Filosofia Eurocêntrica
Joseph
MARGOLIS - Temple University – USA
josephmargolis455@hotmail.com
Resumo:
As principais correntes da filosofia eurocêntrica, amplamente
concebida: pragmatismo, filosofia analítica e, filosofia continental,
embora cada um destes "movimentos" se estenda sobre realizações
extremamente diversas, agora parecem estar convergindo sobre a questão
da adequação ou não a alguma forma de naturalismo.
A filosofia analítica tem tendido a favorecer formas redutivas
de naturalismo ("naturalizantes," no sentido de Quine e
Davidson); a filosofia continental tende a favorecer, no que denomino
extranaturalismo, a inadequação de qualquer forma comum
de naturalismo (notavelmente, nas linhas exploradas por Husserl e
Heidegger); e o pragmatismo tende a favorecer formas moderadas, mas
generosas de naturalismo que admitem a singularidade da pessoa humana.
A questão que me concerne aqui é a perspectiva de uma
reaproximação entre estas correntes, que eu acho que
dependem da reconsideração das inovações
de Kant e Hegel. Nestes termos, o pragmatismo parece ter uma vantagem
distinta, embora sua sorte dependa de sua habilidade em cooptar a
obra distinta dos continentais e de substituir as opções
extremamente redutoras favorecidas pelos analíticos.
|
C. S. Peirce e G. M. Searle: O Logro do Infalibilismo
Jaime
NUBIOLA - University of Navarra - Spain
jnubiola@unav.es
Resumo: George M. Searle (1839-1918) e Charles S. Peirce trabalharam
juntos na Coast Survey e no Observatório de Harvard durante
a década de 1860: os dois cientistas foram assistentes de Joseph
Winlock, o diretor do Observatório. Quando, em 1868, George,
convertido ao catolicismo, deixou-o para se juntar aos Padres Paulistas,
ele foi substituído por seu irmão Arthur Searle. George
foi ordenado padre em 1871, foi lente de Matemática e Astronomia
na Universidade Católica da América e tornou-se o quarto
padre superior de sua congregação de 1904 a 1909. Entre
os livros que escreveu para não-católicos está
Fatos Simples para Mentes Razoáveis (Plain Facts for Fair Minds;
1895). No dia 8 de agosto de 1895, Peirce encontrou esse livro em
uma livraria e no dia seguinte escreveu uma carta a George Searle
desfiando suas fortes reservas sobre a questão da infalibilidade
do Papa. Esta carta (L 397) é praticamente desconhecida entre
os scholars peirceanos.
Após descrever estas circunstâncias históricas
como uma estrutura, o objetivo de meu trabalho será o de descrever
os argumentos de Peirce contra a infalibilidade papal apresentada
por George Searle em seu livro, e o contraste entre a atitude genuinamente
científica e a noção metafísica putativa
da verdade absoluta que está - de acordo com Peirce - por trás
da defesa da infalibilidade por parte de Searle. Neste sentido, o
falibilismo de Peirce será explicado em algum detalhe, dando
conta também de seu infalibilismo prático: "A asserção
de que cada asserção exceto esta é falível,
é a única que é absolutamente infalível.
Mas embora nada mais seja absolutamente infalível, muitas proposições
são praticamente infalíveis; tais como os ditos da consciência"
(Lógica Pequena, CP 2.75, c. 1902).
Finalmente, tendo em mente o interesse presente nas idéias
religiosas de Peirce, será sugerido que algumas das idéias
de Peirce sobre infalibilidade estão mais perto da compreensão
contemporânea desse assunto do que a defesa de Searle. "Eu
me juntaria, de todo o coração, à antiga Igreja
de Roma, se pudesse. Mas seu livro - Peirce escreve a Searle - é
um tremendo aviso contra fazê-lo".
|
Ockham e Peirce sobre Realidade e Signos: Aproximações
e Divergências
Ockham and Peirce on Reality and Signs: Affinities and Divergences
Roberto
Hofmeister
PICH-
PUC-RS - Brazil
Resumo:
O tema dos "universais", na filosofia na Idade
Média, fora objeto de análise de Duns Scotus, em cujo
realismo modal - da "natureza comum" na coisa e do "conceito
universal" só na mente - Peirce parece ter se inspirado
na elaboração da sua metafísica e teoria da ciência.
É sabido, porém, que a mais profunda revisão
histórica do entendimento dos universais é mérito
de outro pensador medieval, a saber, Guilherme de Ockham - cuja ontologia
é estritamente de coisas particulares e para quem universais
como conceitos da mente (conceptus ou intentiones) só
têm existência mental exemplar em cada indivíduo,
seja como ficta ou atos abstrativos eles mesmos. A repercussão
do "nominalismo" de Ockham é pervasiva na filosofia
posterior. Para todos os efeitos, aqueles meros acidentes inerentes
ao intelecto, os conceitos abstrativos, pressupõem intuições
inelectuais de objetos particulares e, como termos mentais simples
ou, então, em proposições mentais, são
basicamente signos naturais que representam um ou mais entes singulares
do mundo. O que são, nesse caso, signos? Quais são os
tipos de signos? Como exercem propriedades semânticas (significação,
suposição, etc.)? Essas perguntas se revestem de importância
porque, se pelo pensamento e linguagem o mundo pode ser conhecido,
Ockham crê poder descrever satisfatoriamente uma teoria semântica
para mostrar como a mente representa sempre e apenas coisas particulares
(substância, qualidade, forma e matéria no indivíduo
e de cada indivíduo), tal que generalização e
universalidade existem só pela significação.
Ao mesmo tempo, parece admitir um realismo direto (sic!) de particulares
que determinam, sim, o conteúdo dos termos mentais absolutos
e das proposições mentais assentidas - determinam e
possibilitam, pois, o conhecimento e a ciência reais.
Isso só é inteligível na base da origem dos signos
naturais.
Em que medida foi Peirce um leitor de Ockham? Adota posições
de Ockham sobre realidade, conhecimento e teoria dos signos, mesmo
sem denominá-las "ockhamistas"? Há, naturalmente,
vigorosa e convincente tendência a identificar em Peirce um
"realismo scotista". Em geral, pois, a própria lógica/semiótica
de Peirce, isto é, a sua extremamente detalhada doutrina dos
signos, exemplarmente interessada em explicar para propósitos
de teoria da ciência como signos e objetos se relacionam, dá
apoio ao seu realismo, avesso ao "nominalismo" e ao "idealismo".
Há, porém, quem note que, apesar dessa denominação,
o programa pragmatista de significação e conhecimento
pode, no conteúdo, ser visto como "anti-realista"
e firmemente "verificacionista". Isso, por exemplo, poderia
ser interpretado da famosa extensa resenha de Peirce a "Fraser's
The Works of George Berkeley", de 1870, em que o "nominalismo"
rejeitado, que identificava as causas eficientes de pensamentos e
conceitos "semelhantes" a modo de teoria representativa
da percepção e de teoria da verdade por correspondência,
abrindo espaço a desconfianças céticas, bem poderia
valer, no conteúdo, por um modo tradicional de "realismo"
(sic!) - mesmo o scotista. E se realismo valeria, ali, por toda teoria
que põe na realidade de singulares a causa final de inquérito,
realidade alcançada se buscada suficientemente e adequadamente,
o "verificacionismo" e "realismo empírico",
aqui, tem semelhanças ao "nominalismo" de Ockham
(sic!). Sem dúvida, o realismo de Peirce tem variações
muito mais complexas - da defesa de modalidades objetivas aos problemas
de referência a objetos da percepção. De qualquer
maneira, o estudo pretendido quer revisar o tema da metafísica
e semântica "nominalistas" em Peirce, sob o termo
de comparação de Guilherme de Ockham. Dado que existem,
na literatura especializada, estudos e pesquisas que associam a metafísica
e a teoria dos signos de Ockham àquelas de Peirce, o estudo
a ser apresentado propõe-se igualmente revisá-los, tanto
quanto for possível.
|
C. S. Peirce e Aristóteles sobre o Tempo
Demetra
SFENDONI-MENTZOU - Aristotle University of Thessaloniki - Greece
sfendoni@edlit.auth.gr
Resumo: A questão concernente à natureza do tempo
está intimamente relacionada à antítese tradicional
entre o universo parmenidiano a-temporal estático e o modelo
dinâmico do vir-a-ser. Isto está maravilhosamente ilustrado
na teoria do fluxo do tempo peirceana. Nesta rejeição
da visão de mundo atomista, Peirce tratou o tempo em relação
íntima com os processos físicos. Ele então propôs
uma teoria extremamente interessante que tem um certo parentesco com
teorias contemporâneas da flecha do tempo. Entretanto, o que
torna esta abordagem extremamente interessante é não
apenas seu ar de modernidade, mas suas notáveis semelhanças
com Aristóteles (Física, livro IV, esp. caps. 10-14).
Meu propósito, portanto, neste trabalho é reconstruir
a teoria do tempo de Peirce à luz da filosofia de Aristóteles.
Meu ponto de partida será a análise de continuidade
em relação aos infinitesimais (6.109), através
do uso da qual ele pode tratar o tempo como um "continuum par
excellence," (6.86, 1898) que não é uma coleção
estática de instantes discretos, (ver MS 137, p. 4-5, 1904),
mas uma coleção de possibilia reais (ver NE, 360), tornando
assim possível a compreensão do fluxo do tempo (6.11).
Então prosseguirei com o exame da conexão do tempo de
Peirce, como um continuum real, com a idéia de infinito. A
este respeito, focalizarei na sua rejeição da infinidade
verdadeira - no sentido zenoneano-atomístico-cantoriano - e
sua adoção da idéia aristotélica de potencial
infinito (Física, livro III, caps. iv-viii). Argüirei,
portanto, que o que levou Peirce a passar da análise lógico-matemática
de continuidade para uma teoria ontológica foi seu apelo à
potencialidade no seu tratamento de continuidade-infinidade-tempo.
Isto, creio, foi o resultado da influência que ele recebera
de Aristóteles, que estava também profundamente preocupado
em dar à mudança, movimento e vir-a-ser, seu lugar apropriado
na natureza. Assim, tanto Peirce quanto Aristóteles puderam
construir uma teoria dinâmica do tempo, intimamente relacionada
à idéia de infinidade potencial, que expressa um processo
físico sendo progressivamente atualizado, de tal modo que ele
jamais poderá existir como um todo imaginado.
|
O Tempo em Peirce
Lauro
Frederico B. da SILVEIRA - UNESP/Marília - Brazil
lfbsilv@terra.com.br
Resumo:
A variável tempo, permeia toda a filosofia de Charles S. Peirce.
Sua posição a respeito do tempo é a de conferir-lhe
realidade objetiva sem lhe atribuir função transcendental.
O conceito de tempo acompanhará, em seu desenvolvimento, o
conceito de continuum e será sob este último aspecto
que receberá seu mais amplo tratamento.Um duplo viés
determinará o encaminhamento da discussão sobre a concepção
de tempo e de suas propriedades: o senso comum crítico e a
teoria topológica do verdadeiro continuum. Com efeito, Peirce
encontrará na topologia um modelo formal que lhe permita trabalhar
rigorosamente uma apreensão ingênua de tempo, com mínimo
pressuposto metafísico, anterior qualquer métrica e,
de fato capaz de recuperar, com o auxílio da ciência
que lhe é contemporânea a noção aristotélica
do tempo em termos de antes e de depois. Deixa crer o autor, que com
tal tratamento as concepções de tempo que integram diversas
doutrinas filosóficas, podem ser assumidas sem prejuízo
do que ele estaria propondo, dada a proximidade com a experiência
diária com que a noção é trabalhada. Como
modalidade objetiva, torna-se, inclusive, possível acolher
o tempo na construção dos diagramas e no tratamento
lógico oferecido pelos Grafos Existenciais.
|
|
|
|
|